A Fundação Lauro Campos (FLC) inaugurou o Grupo de Trabalho sobre Conjuntura. Nesta segunda parte estiveram presentes Ruy Braga, Chico Alencar, Ivan Valente e Luciana Genro. A iniciativa, coordenada por Gilberto Maringoni, pretende congregar a militância do PSOL, dirigentes e ativistas de movimentos sociais, além da intelectualidade progressista, com o objetivo de aprofundar as formulações sobre os rumos de nosso país e de propostas para uma saída à esquerda. Como Maringoni informou na abertura da sessão – que abordou o ajuste fiscal, suas consequências e as perspectivas de ação da esquerda e dos movimentos sociais -, o Grupo se reunirá a cada 45 dias.
Autor: Redação Lauro Campos
-
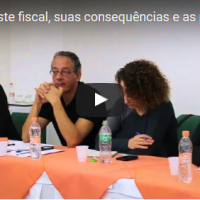
Debate: ajuste fiscal, suas consequências e as perspectivas da esquerda
A Fundação Lauro Campos (FLC) inaugurou o Grupo de Trabalho sobre Conjuntura. Nesta primeira parte estiveram presentes Luciana Genro, Paulo Kliass, Guilherme Boulos e Vladimir Safatle. A iniciativa, coordenada por Gilberto Maringoni, pretende congregar a militância do PSOL, dirigentes e ativistas de movimentos sociais, além da intelectualidade progressista, com o objetivo de aprofundar as formulações sobre os rumos de nosso país e de propostas para uma saída à esquerda. Como Maringoni informou na abertura da sessão – que abordou o ajuste fiscal, suas consequências e as perspectivas de ação da esquerda e dos movimentos sociais -, o Grupo se reunirá a cada 45 dias.
-

Pesquisa com dados do IR mostra desigualdade estável de 2006 a 2012
 A diminuição da desigualdade, uma das principais bandeiras do governo federal, pode não ter sido bem-sucedida. É o que mostra um estudo realizado por três pesquisadores da Universidade de Brasília. Eles constataram que a concentração de renda permaneceu praticamente estável entre 2006 e 2012, contrariando a queda acentuada divulgada pelo IBGE.
A diminuição da desigualdade, uma das principais bandeiras do governo federal, pode não ter sido bem-sucedida. É o que mostra um estudo realizado por três pesquisadores da Universidade de Brasília. Eles constataram que a concentração de renda permaneceu praticamente estável entre 2006 e 2012, contrariando a queda acentuada divulgada pelo IBGE.Os pesquisadores Marcelo Medeiros, Pedro Souza e Fábio de Castro concluíram que os coeficientes de Gini, usados para medir a desigualdade foram 0,696 (em 2006), 0,698 (em 2009) e 0,690 (em 2012).
Quanto mais próximo de 1, maior é a concentração de renda. Zero significa que todos os habitantes de uma região ganham a mesma quantia, o que não acontece em nenhum lugar do mundo.
O Brasil ocupa a 141ª colocação no ranking da igualdade feito pelo Banco Mundial, na frente de apenas 13 países. A Suécia aparece como país mais igual do mundo, enquanto África do Sul e Seychelles estão nos últimos lugares.
“Nosso estudo mostrou que a desigualdade é maior no Brasil do que se costumava acreditar. E também que a desigualdade permanece estável de 2006 em diante”, diz Medeiros.
Os resultados obtidos pelo trio são bem diferentes dos divulgados pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) no estudo “A Década Inclusiva”, que teve como base os dados coletados pela Pnad (Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios) de 2001 a 2011, do IBGE.
DESIGUALDADE SEGUNDO ESTUDO DA UNB
Pesquisa baseada nos dados do Imposto de Renda mostra queda do índice de Gini, que varia de zero (perfeita igualdade) a um (desigualdade máxima)
Para o Ipea, “não há na história brasileira, estatisticamente documentada desde 1960, nada similar à redução da desigualdade de renda observada desde 2001″. No período, o Gini teria caído em quase todos os anos até 2011.
A diferença entre os resultados dos dois trabalhos vem da forma como eles usaram os dados referentes à renda. A pesquisa da UnB aplicou uma metodologia que vem ganhando força nos últimos anos, principalmente a partir dos conceitos do economista francês Thomas Piketty.
A renda dos mais ricos é calculada a partir das declarações do Imposto de Renda. Os professores da UnB usaram as Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF) dos 10% mais ricos, nos anos de 2006, 2009 e 2012, e combinaram com os dados da Pnad para os outros 90% da população.
Os pesquisadores acreditam que, mesmo usando o imposto, a renda dos mais ricos pode estar subestimada já que os ganhos de pessoa jurídica não são tributados nas declarações do Imposto de Renda da pessoa física.
Já nas pesquisas usadas pelo Ipea, o entrevistado declara a própria renda e muitas vezes não leva em conta rendimentos além dos salários, como aplicações financeiras.
DESIGUALDADE SEGUNDO O GOVERNO
Dados do IBGE mostram queda acentuada do índice de Gini, que varia de zero (perfeita igualdade) a um (desigualdade máxima)
Medeiros explica que os coeficientes de Gini encontrados pelo seu estudo não devem ser comparados aos divulgados pelo IBGE. Enquanto os pesquisadores da UnB usaram renda bruta para os 10% mais ricos, os dados obtidos pela Pnad se referem a renda familiar per capita de apenas uma amostra da população. Outra diferença é que o trabalho dos três pesquisadores acrescentou a parcela da população que não tem rendimentos.
POBREZA REDUZIDA
Apesar de afirmar que a desigualdade não diminuiu, os pesquisadores da UnB avaliam que as condições dos mais pobres melhoraram. “Não há dúvida de que a renda dos mais pobres aumentou de 2006 a 2012, mas desigualdade e nível de vida são coisas diferentes”, diz Medeiros.
Marcio Pochmann, ex-presidente do Ipea, defende que a desigualdade diminuiu porque os mais pobres tiveram um crescimento de renda acelerado no período. “Todos ganharam, uns mais que os outros. Os mais pobres cresceram mais que a média. Eles tiveram empregos melhores, o salário mínimo subiu, tiveram o Bolsa Família”, afirma.
Pela pesquisa da UnB, a metade mais pobre da população ficou com apenas 11% do resultado do crescimento entre 2006 e 2012, enquanto o 1% mais rico ficou com 28%.
“Ou seja, cada pessoa da pequena elite formada pelo 1% mais rico da população apropriou-se de uma fração 127 vezes maior do crescimento da renda que as pessoas na metade mais pobre do país”, afirma o trabalho.
Organizadora do livro “Trajetórias das Desigualdades”, cujo lançamento aconteceu na terça-feira (2), Marta Arretche diz que o estudo de Medeiros, Souza e Castro passa a impressão que não houve avanço na melhora de vida dos mais pobres nas década passada.
“O Gini pode permanecer inalterado, mas não esconde que o Bolsa Família tirou 14 milhões de domicílios da pobreza e que a faixa da população protegida pelo salário mínimo aumentou”, explica.
Segundo Arretche, o trabalho da UnB evidenciou as limitações das pesquisas censitárias. “Quando você tem o quadro total e não apenas o dos ricos, você conclui que houve mudanças importantes no Brasil. Ela pode não ser no nível que os cálculos com apenas os dados censitários indicavam, mas houve mudanças”, avalia.
Por se tratar de um estudo com uma metodologia nova, ao combinar os dados do Imposto de Renda de parte da população com declarações de renda familiar de uma pesquisa amostral, agora os três pesquisadores da UnB tentam confirmar os achados.
“Estamos confirmando com uma série de outras metodologias os resultados. Até agora tudo indica que estamos certos”, diz Medeiros.
CLASSE ALTA NA FAVELA
No Brasil, 7% dos moradores das favelas em 2014 pertencem à classe alta. É o que encontrou uma pesquisa de março do Data Favela, o primeiro instituto especializado nas favelas brasileiras.
Os resultados retratam um país em que, segundo a Pnad de 2013, 52% da população em idade ativa recebia no máximo dois salários mínimos (R$ 1.576). Outros 22% não tinham rendimentos. Apenas cerca de 2% da população ganhava mais que dez salários mínimos (R$ 7.880).
Para fazer parte da classe alta, que engloba as classes A e B, era necessário que a renda familiar per capita estivesse acima de R$ 1.184 em maio de 2014. O levantamento, feito com apoio do Instituto Data Popular e da Central Única das Favelas (Cufa), pesquisou 63 comunidades em nove Estados e no Distrito Federal.
Fonte: Folha de São Paulo, 08/06/2015
-

A montanha COP-21 pariu um rato
 Se quisermos evitar a catástrofe, temos de ir além da conversa e atacar as verdadeiras raízes do problema: a oligarquia fóssil e, em última análise, o atual sistema económico e social, o capitalismo.
Se quisermos evitar a catástrofe, temos de ir além da conversa e atacar as verdadeiras raízes do problema: a oligarquia fóssil e, em última análise, o atual sistema económico e social, o capitalismo.Que imenso sucesso! A COP-21 é um verdadeiro acontecimento histórico! Mais do que isso, é um verdadeiro milagre! Pela primeira vez na história, 195 chefes de Estado encontraram-se para discutir uma resolução comum.
A Conferência de Paris, graças à paciente diplomacia de Laurent Fabius e François Hollande, permitiu a adoção unânime de um documento que reconhece a necessidade de se tomar medidas para evitar que o aquecimento global seja superior a 2 graus.
Laurent Fabius reconheceu que, no fim, ficaremos abaixo de um grau e meio. Todos os governos do planeta aceitaram fazer propostas de redução voluntária das suas emissões de CO2.
Diante de tamanha demonstração de boa vontade, de tão maravilhosa unanimidade planetária, de tão grandiosa convergência de todos os países, grandes e pequenos, não é para ficarmos felizes? Para os que podem, é hora de abrir a garrafa de champanhe e comemorar esse extraordinário sucesso da governança climática internacional.
Só tem um detalhe que ameaça estragar a festa. É um detalhe pequeno, mas não é um detalhe insignificante. Qual?
Se todos os governos cumprirem as suas promessas, os seus compromissos voluntários – o que, infelizmente, é pouco provável, considerando-se a ausência de um acordo obrigatório, a ausência de sanções e a ausência de controlo – se todos reduzirem efetivamente as suas emissões, conforme as suas declarações de intenção, nesse caso idílico – infelizmente, muito infelizmente, improvável – o que irá acontecer?
Segundo os cálculos científicos, nesse caso o aquecimento global vai aumentar, em algumas décadas, 3 ou talvez até 4 graus. O que significa o rompimento do ponto de não retorno e o desenvolvimento de um processo irreversível de mudança climática, conduzindo – num prazo imprevisível, mas, sem dúvida, como reconhecem os cientistas, bem mais curto do que as previsões atuais – a uma série de catástrofes nunca vistas na história da humanidade: inundação das principais cidades da civilização humana (de Londres e Amesterdão a Rio de Janeiro e Hong Kong), desertificação em grande escala, redução dramática de água potável, queima das últimas florestas existentes etc. A que temperatura a vida humana seria insuportável neste planeta?
A montanha COP-21 pariu um rato. Se quisermos evitar a catástrofe, temos de ir além da conversa e atacar as verdadeiras raízes do problema: a oligarquia fóssil e, em última análise, o atual sistema económico e social, o capitalismo.
“Mudemos o sistema, não o clima!” A palavra de ordem de milhares de manifestantes presentes no Champ de Mars foi a única palavra de futuro pronunciada em Paris em 12 de dezembro de 2015.
Tradução de Mariana Echalar publicada no blogue da Boitempo
Fonte: Esquerda.Net, 15/12/2015
-

Pátria Educadora

Vladimir Safatle De todos os estelionatos eleitorais que o governo Dilma produziu nesses últimos meses, o mais deplorável é aquele que levou os profissionais de marketing de sua campanha a decidir que o slogan de seu governo seria “Pátria educadora”. Ao se ouvir algo dessa natureza, o cidadão acredita que está diante de um governo que fará da educação sua prioridade maior.
Isso significa, por exemplo, que ele livrará os gastos com educação da sanha dos cortes inventados por economistas funcionários de bancos privados travestidos de ministros. Economistas contratados para requentar a velha receita do “ajuste fiscal” que pune os pobres e a classe média, isto enquanto deixa intocado os rendimentos da elite rentista e do sistema financeiro.
No entanto, eis que no início do mês de julho somos contemplados com a notícia de que a Capes, órgão do Ministério da Educação responsável pela pós-graduação, será obrigada a cortar 75% da verba de custeio de todos os programas de mestrado e doutorado no país.
Isso significa uma restrição brutal das atividades de pós-graduação, com consequências para a pesquisa desenvolvida entre nós e para o processo de internacionalização de nossas universidades.
Em um momento de crise, os investimentos em educação e pesquisa tornam-se ainda mais decisivos. Países que entraram em crise econômica profunda, como a Islândia, criaram um sistema de bolsas para que desempregados se inscrevessem na pós-graduação, isso a fim de qualificá-los melhor.
Mas imaginar que os economistas que controlam o atual governo compreendam algo dessa natureza é como pedir que andem de cabeça para baixo.
Ao impor ao Ministério da Educação a obrigação de produzir um corte dessa natureza, o governo federal demonstra, mais uma vez, sua falta de compromisso com suas próprias promessas. Se ele realmente quisesse tratar a educação nacional como prioridade poderia lutar por criar um imposto, vinculado exclusivamente à educação, sobre os lucros bancários estratosféricos, sobre as grandes fortunas ou sobre transações bancárias.
Quem sabe, tocado pela situação, o Congresso Nacional, com sua casta recém-contemplada com aumentos de verbas, poderia voltar atrás no aumento do Fundo Partidário e o senhor Eduardo “dia do orgulho heterossexual” Cunha anunciaria que os líderes partidários resolveram que melhor seria abrir mão de tal aumento em prol da defesa do orçamento da educação.
Em uma hora de miséria nacional, não custa delirar um pouco.
-

A sociedade do smartphone
Assim como o automóvel definiu o século XX, o smartphone está remodelando como nós vivemos e trabalhamos hoje.

Traduzido da Jacobin Magazine.
O automóvel foi, em muitos aspectos, a mercadoria que definiu o século XX. Sua importância não decorre de virtuosismo tecnológico ou sofisticação da linha de montagem, mas sim de uma capacidade de refletir e modelar a sociedade. As formas como produzimos, consumimos, usamos e regulamos automóveis são uma janela para o capitalismo do século XX em si — um vislumbre de como o social, o político e o econômico cruzaram e colidiram.
Hoje, num período caracterizado por financeirização e globalização, no qual a “informação” é rei, a ideia de qualquer mercadoria definir uma época pode parecer estranha. Mas mercadorias não são menos importantes hoje, e as relações das pessoas com elas continuam centrais para a compreensão da sociedade. Se o automóvel foi fundamental para captar o último século, o smartphone é a mercadoria que define a nossa era.
As pessoas hoje gastam muito tempo em seus telefones. Elas os checam constantemente durante o dia e os mantêm perto dos seus corpos. Elas dormem perto deles, levam eles para o banheiro e olham para eles enquanto caminham, comem, estudam, trabalham, esperam e dirigem. 20% dos jovens adultos admitem até checar seus telefones durante o sexo.
O que significa que as pessoas tenham um telefone em sua mão ou no seu bolso onde quer que vão, durante todo o dia? Para dar sentido à nossa pretensa dependência coletiva do telefone, nós devemos seguir o conselho de Harry Braverman e analisar “a máquina de um lado e as relações sociais de outro, e a maneira pela qual esses dois se juntam na sociedade”.
Máquinas de mão
Insiders da Apple se referem à cidade de montagem da Foxconn em Shenzhen como Mordor — o buraco do inferno da Terra Média de J. R. R. Tolkien. Como uma onda de suicídios em 2010 revelou tragicamente, o apelido é um exagero apenas leve para as fábricas nas quais jovens trabalhadores chineses montam iPhones. A cadeia de fornecimento da Apple liga colônias de engenheiros de software com centenas de fornecedores de componentes na América do Norte, na Europa e na Ásia Oriental — Gorilla Glass de Kentucky, coprocessadores de movimento da Holanda, chips de câmera de Taiwan e módulos transmissores da Costa Rica convergem em dezenas de fábricas de montagem na China.
As tendências simultaneamente criativas e destrutivas do capitalismo estimulam mudanças constantes nas redes globais de produção, e dentro dessas redes, novas configurações de poder corporativo e estatal. Nos velhos tempos, cadeias de fornecimento orientadas pelo produtor, exemplificadas por indústrias como a do automóvel e a do aço, eram dominantes. Pessoas como Lee Iacocca e a lenda do Boeing, Bill Allen, decidiam o que fazer, onde fazer e por quanto vender.
Porém, à medida que contradições econômicas e políticas do boom pós-guerra intensificaram nos anos 60 e 70, mais e mais países do sul global adotaram estratégias orientadas para a exportação para alcançar seus objetivos de desenvolvimento. Um novo tipo de cadeia de fornecimento emergiu (particularmente em indústrias leves como de roupas, brinquedos e eletrônicos) na qual os varejistas, em vez de os fabricantes, seguram as rédeas. Nesses modelos orientados pelo comprador, empresas como Nike, Liz Claiborne e Walmart projetam bens, definem seu preço para os fabricantes e muitas vezes possuem no modo de produção não muito mais do que suas marcas lucrativas.
Poder e governança estão localizados em vários pontos na cadeia do smartphone, e produção e projeto estão profundamente integrados na escala global. Mas as novas configurações de poder tendem a reforçar as hierarquias de riqueza existentes: os países pobres e médios tentam desesperadamente passar a serem nós mais lucrativos através de desenvolvimento de infraestrutura e acordos comerciais, mas oportunidades de modernização são poucas e distantes entre si, e a natureza global da produção faz as lutas dos trabalhadores para melhorar condições e salários extremamente difícil.
Os mineiros de coltan congoleses estão separados dos executivos da Nokia por mais do que um oceano — estão divididos pela história e pela política, pela relação dos seus países com as finanças, e por barreiras de desenvolvimento que têm décadas, muitas delas enraizadas no colonialismo.
A cadeia de valor do smartphone é um mapa útil de exploração global, política de comércio, desenvolvimento desigual e proezas logísticas, mas o significado mais profundo do dispositivo está em outro lugar. Para descobrir as mudanças mais sutis na acumulação que são ilustradas e facilitadas pelo smartphone, nós devemos nos voltar do processo pelo qual as pessoas usam máquinas para criar telefones para o processo pelo qual nós usamos o próprio telefone como máquina.
Considerar o telefone como máquina é, em alguns aspectos, imediatamente intuitivo. Com efeito, a palavra chinesa para celular é shouji, ou “máquina de mão”. As pessoas frequentemente usam suas máquinas de mão como elas usariam qualquer outra ferramenta, particularmente no local de trabalho. As demandas neoliberais por trabalhadores flexíveis, móveis e conectados em rede tornam-nas essenciais.
Smartphones estendem o local de trabalho em espaço e tempo. E-mails podem ser respondidos no café da manhã, fichas revistas no trem para casa e as reuniões do dia seguinte verificadas antes de apagar as luzes. A Internet se torna o local de trabalho, com o escritório apenas um ponto no vasto mapa de possíveis espaços de trabalho.
A extensão da jornada de trabalho por meio de smartphones se tornou tão onipresente e perniciosa que grupos de trabalhadores estão lutando contra. Na França, sindicatos e empresas de tecnologia assinaram um contrato em abril de 2014 reconhecendo a 250 mil trabalhadores de tecnologia o “direito de desconectar” depois de um dia de trabalho. A Alemanha está atualmente contemplando uma legislação que visa proibir e-mails e telefonemas depois do trabalho. A ministra do trabalho alemã Andrea Nahles disse a um jornal que é “indiscutível que há uma conexão entre disponibilidade permanente e doenças psicológicas”.
Smartphones também facilitaram a criação de novos tipos de trabalho e novas formas de acessar os mercados de trabalho. No “mercado de trabalhos ocasionais”, empresas comoTaskRabbit e Postmates construíram seus modelos de negócio tocando na “força de trabalho distribuída” através de smartphones.
O TaskRabbit conecta as pessoas que preferem evitar o trabalho penoso de realizar seus afazeres domésticos com pessoas desesperadas o suficiente para fazerem por dinheiro. Aqueles que querem tarefas feitas, como roupa lavada ou faxina depois da festa de aniversário dos seus filhos, se conectam com “taskers” usando o aplicativo móvel da TaskRabbit.
Espera-se que os taskers monitorem continuamente seus telefones por trabalhos potenciais (o tempo de resposta determina quem pega um trabalho); consumidores podem pedir ou cancelar um tasker em trânsito; e depois de completar com sucesso a tarefa, o terceirizado pode ser pago diretamente através do telefone.
Postmates — o queridinho da gig economy — está em ascensão no mundo dos negócios, especialmente depois que a Spark Capital colocou 16 milhões de dólares nele no início do ano. Postmates rastreia seus “mensageiros” em cidades como Boston, San Francisco e New York usando um aplicativo móvel nos seus iPhones enquanto eles se apressam para entregar tacos artesanais e lattes de baunilha sem açúcar em casas e escritórios. Quando um novo trabalho chega, o aplicativo o encaminha para o mensageiro mais próximo, que precisa responder imediatamente e completar a tarefa em uma hora para receber o pagamento.
Os mensageiros, que não são empregados reconhecidos da Postmates, estão menos entusiasmados que a Spark. Eles ganham US$ 3,75 e gorjeta, e como eles são classificados como terceirizados independentes, não são protegidos pelas leis de salário mínimo.
Dessa forma, nossas máquinas de mão se encaixam perfeitamente no mundo moderno do trabalho. O smartphone facilita modelos de emprego contingente e autoexploração ao conectar trabalhadores a capitalistas sem os custos fixos e o investimento emocional das relações de emprego mais tradicionais.
Mas smartphones são mais do que um pedaço de tecnologia para trabalho assalariado — eles tornaram-se uma parte da nossa identidade. Quando nós usamos nossos telefones para enviar mensagens de texto a nossos amigos e namorados, postamos comentários no Facebook ou percorremos nossos feeds no Twitter, nós não estamos trabalhando — estamos relaxando, estamos nos divertindo, estamos criando. No entanto, coletivamente, através desses pequenos atos, nós acabamos produzindo algo único e valioso: nossos eus.
Eus a venda
Erving Goffman, um influente sociólogo americano, era interessado no eu e em como os indivíduos produzem e moldam a si mesmos através da interação social. Como ele mesmo admitia, Goffman era um pouco shakeasperiano — para ele, “o mundo inteiro é um palco”. Ele argumentou que as interações sociais podem ser pensadas como performances e que as performances das pessoas variam de acordo com a audiência.
Nós encenamos essas performances para as pessoas — conhecidos, colegas de trabalho, parentes julgadores — que queremos impressionar. As performances dão a aparência de que nossas ações “mantêm e incorporam certos padrões”. Elas convencem a audiência que nós realmente somos quem nós dizemos que nós somos: seres humanos responsáveis, inteligentes e morais.
Mas performances no palco podem ser volúveis e muitas vezes prejudicadas por erros — pessoas falam coisas estúpidas, não compreendem sinais sociais, têm um pedaço de espinafre preso nos seus dentes ou podem ser pegas mentindo. Goffman era fascinado pelo quanto nós trabalhamos duro para aperfeiçoar e manter nossas performances e pelo quão frequentemente nós falhamos.
Smartphones são uma dádiva divina para os aspectos dramatúrgicos da vida. Eles nos permitem gerenciar as impressões que nós fazemos nos outros com uma precisão de quem é obsessivo por controle. Em vez de falar com os outros, nós podemos enviar mensagens de texto, preparar frases espirituosas e estratégias de evasão com antecedência. Nós podemos mostrar nosso gosto impecável no Pinterest, habilidades maternais no CafeMom e talentos artísticos florescentes no Instagram, tudo em tempo real.
A revista New York recentemente lançou um artigo sobre as quatro pessoas mais desejáveis de New York de acordo com o OKCupid. Esses indivíduos criaram perfis de namoro tão atraentes que eles são socados por pedidos atenciosos e picantes — seus telefones tocam continuamente com mensagens de potenciais amantes. Tom, um dos quatro escolhidos, ajusta regularmente seu perfil, aparecendo em novas fotos e dando nova redação à sua autodescrição. Ele já até usou o MyBestFace, serviço de otimização de perfil do OKCupid.
Tom diz que todo esse esforço é necessário na nossa atual “cultura das curtidas”. Ele considera que seu perfil no OKCupid é uma “extensão de si mesmo”: “Eu quero que ele pareça bom e limpo, então eu faço ele fazer flexões e o que for”.
O alcance incrível dos meios de comunicação social e a adoção rápida das pessoas produzindo e executando a si mesmas estão gerando o surgimento de novos rituais de interação mediados tecnologicamente. Smartphones são agora centrais na forma como nós “geramos, mantemos, reparamos e renovamos, bem como… contestamos ou resistimos a relacionamentos”.
Tome rituais de mensagens de texto, que, com todas suas regras complexas e não escritas, agora desempenham um papel dominante na dinâmica de relacionamento da maioria dos jovens adultos. Não se precisa lidar com nostalgia nociva para se admitir que rituais novos e mediados tecnologicamente estão deslocando ou alterando radicalmente convenções mais antigas.
Manter, gerar e contestar relações digitalmente através de smartphones é um pouco diferente de usar telefones para completar tarefas associadas com o trabalho assalariado. Os indivíduos não recebem salário pelo seu perfil no Tinder ou para fazer upload das fotos das suas aventuras do fim de semana no Snapchat, mas os eus e os rituais que eles produzem estão certamente à venda. Independentemente da intenção, quando uma pessoa usa seu smartphone para se conectar com pessoas e com a comunidade digital imaginada, o resultado do seu trabalho de amor é provavelmente, e cada vez mais, vendido como mercadoria.
Empresas como o Facebook são pioneiras no empacotamento e venda dos eus digitais. Em 2013, o Facebook teve 945 milhões de usuários que acessaram o site através dos seus smartphones. Ele fez 89% da sua receita naquele ano através de publicidade, metade disso veio de publicidade móvel. Toda a sua arquitetura é projetada para guiar a produção móvel de eus numa plataforma que torna esses eus negociáveis.
É por isso que ele instituiu sua política de “nomes reais”: “fingir ser algo ou alguém não é permitido”. O Facebook precisa que os usuários usem seus nomes legais de forma que ele possa facilmente corresponder os eus corporais com os eus digitais, porque dados produzidos e ligados a um humano de verdade são mais rentáveis.
Usuários do site de encontros OKCupid concordam com uma troca similar: “dados para um encontro” [data for a date]. Empresas de terceiros ficam no fundo do site, colhendo fotos, visões política e religiosas e até mesmo romances do David Foster Wallace que os usuários professam adorar. Os dados são então vendidos aos anunciantes, que criam anúncios direcionados e personalizados.
A quantidade de pessoas que tem acesso aos dados do OKCupid é extraordinariamente grande — OKCupid, junto com outrtas empresas como Match e Tinder, é propriedade da IAC/InterActiveCorp, a sexta maior rede on-line do mundo. Construir um eu no OKCupid pode ou não render um amor, mas definitivamente rende lucros corporativos.
A consciência de que nossos eus digitais são agora mercadorias está se espalhando. A professora da New School, Laurel Ptak publicou recentemente um manifesto chamado “Salários pelo Facebook” e em março de 2014, Paul Budnitz e Todd Berger criaram o Ello, uma alternativa transitoriamente popular ao Facebook.
Ello proclama: “Nós acreditamos que uma rede social pode ser uma ferramenta para empoderamento. Não uma ferramenta para enganar, coagir e manipular — mas um lugar para se conectar, criar e celebrar a vida. Você não é um produto.” Ello promete não vender seus dados para terceiros, ao menos por enquanto. Ele reserva-se ao direito de fazer isso no futuro.
Entretanto, as discussões sobre o tráfico de eus digitais por empresas de dados do mercado paralelo e os gigantes do Vale do Silício estão normalmente separadas de conversas sobre as condições de trabalho cada vez mais exploradoras ou o crescente mercado de trabalho precário e degradante. Mas esses não são fenômenos separados — eles estão intrinsecamente ligados, todos peças no quebra-cabeça do capitalismo moderno.
iCommodify
O capital precisa se reproduzir e gerar novas formas de lucro ao longo do tempo e do espaço. Ele precisa constantemente criar e reforçar a separação entre trabalhadores assalariados e proprietários do capital, aumentar o valor que extrai dos trabalhadores e colonizar novas esferas da vida social para criar mercadorias. O sistema e as relações que o compõe estão em constante movimento.
A expansão e a reprodução do capital na vida cotidiana e a colonização de novas esferas da vida social pelo capital não são sempre óbvias. Pensar sobre o smartphone nos ajuda a juntar as peças porque o dispositivo em si mesmo facilita e sustenta novos modelos de acumulação.
A evolução do trabalho ao longo das últimas três décadas tem sido caracterizada por uma série de tendências — o prolongamento da jornada de trabalho, o declínio de salários reais, a redução ou eliminação de proteções não-salariais a partir do mercado (como pensões fixas ou regulações de saúde e segurança), a proliferação do trabalho de tempo parcial e o declínio dos sindicatos.
Ao mesmo tempo, normas relativas à organização do trabalho também tem mudado. Modelos de trabalho temporários e orientados a projeto estão se proliferando. Não é mais esperado que os empregadores forneçam segurança ou horas regulares no trabalho, e os empregados já não esperam essas coisas.
Porém, a degradação do trabalho não está dada. O aumento da exploração e da pauperização são tendências, não resultados fixos ordenados pelas regras do capitalismo. Eles são o resultado de batalhas perdidas pelos trabalhadores e vencidas pelos capitalistas.
O uso ubíquo dos smartphones para estender a jornada de trabalho e expandir o mercado para trabalhos de merda é um resultado da fraqueza tanto dos trabalhadores como dos movimentos da classe trabalhadora. A compulsão e a vontade de um número crescente de trabalhadores a se engajarem com seus empregadores através dos seus telefones normaliza e justifica o uso dos smartphones como uma ferramenta de exploração e solidifica a disponibilidade constante como um requerimento para receber um salário.
A não ser na Grande Recessão, as taxas de lucro das empresas vêm subindo constantemente desde o final dos anos 80 e não só como um resultado do capital (e do Estado) revertendo os ganhos do movimento operário. O alcance dos mercados globais tem alargado e aprofundado, e o desenvolvimento de novas mercadorias tem crescido em ritmo acelerado.
Expansão e reprodução do capital são dependentes do desenvolvimento dessas novas mercadorias, muitas das quais emergem do movimento incessante do capital de cercar novas esferas da vida social para lucrar, ou, como diz o economista político Massimo de Angelis, “colocar [essas esferas] para trabalhar para as prioridades e movimentos [do capital]”.
O smartphone é central para esse processo. Ele fornece um mecanismo físico para permitir o acesso constante aos nossos eus digitais e abre uma fronteira quase inexplorada da mercantilização.
Indivíduos não são pagos em salários para criarem e manterem eus digitais — eles são pagos em satisfação de participar de rituais e no controle proporcionado sobre eles nas suas interações sociais. São pagos na sensação de flutuar na vasta conectividade virtual, mesmo que suas máquinas de mão mediem os laços sociais, que ajuda pessoas a imaginarem coletividade enquanto as mantêm separadas como entidade produtivas distintas. A natureza voluntária desses novos rituais não os torna nem um pouco menos importantes ou menos rentáveis para o capital.
Braverman disse que “o capitalista encontra no caráter infinitamente maleável do trabalho humano o recurso essencial para a expansão do seu capital”. Os últimos 30 anos de inovação demonstram a verdade dessa afirmação e o telefone tem emergido como um dos principais mecanismos para ativar, acessar e canalizar a maleabilidade do trabalho humano.
Os smartphones garantem que nós estamos produzindo para mais e mais das nossas vidas despertas. Eles apagam a fronteira entre o trabalho e o lazer. Os empregadores agora têm acesso quase ilimitado a seus empregados e cada vez mais, fazendo até um trabalho mal pago e precário depender da capacidade de se estar sempre disponível e pronto para trabalhar. Ao mesmo tempo, os smartphones proporcionam às pessoas acesso móvel constante aos bens comuns digitais e ao transparente ethos da conectividade, mas apenas em troca pelos seus eus digitais.
Os smartphones borram a linha entre a produção e o consumo, entre o social e o econômico, entre o pré-capitalista e o capitalista, garantindo que se alguém usa seu telefone seja para trabalho ou prazer, o resultado é cada vez mais o mesmo — lucro para os capitalistas.
Será que a chegada do smartphone significa o momento debordiano no qual a mercadoria completou sua “colonização da vida social”? Não é verdade que não só nossa relação com as mercadorias é fácil de ver, mas que “mercadorias são agora tudo o que há para se ver”?
Isso pode parecer um pouco pesado. O acesso a redes sociais e a conectividade digital através de telefones móveis têm, sem dúvidas, elementos liberatórios. Os smartphones podem ajudar a luta contra a anomia e promover um senso de conscientização ambiental, enquanto ao mesmo tempo torna mais fácil para as pessoas gerar e manter relações reais.
Uma conexão compartilhada entre eus digitais pode também nutrir resistência à hierarquia de poder cujo mecanismos internos isolam e silenciam indivíduos. É impossível imaginar os protestos desencadeados por Ferguson e a brutalidade policial sem smartphones e mídia social. E, finalmente, a maioria das pessoas ainda não está compelida a usar smartphones para trabalhar e certamente não são obrigadas a executar seus eus através da tecnologia. A maioria poderia jogar seus telefones no mar amanhã, se quisesse.
Mas não vai. As pessoas adoram suas máquinas de mão. Comunicar-se principalmente através de smartphones está rapidamente se tornando uma norma aceita e mais e mais rituais estão se tornando mediados tecnologicamente. A conexão constante às redes e informação que nós chamamos de ciberespaço está se tornando central para a identidade. Por que isso está acontecendo é uma especulação labiríntica.
Será, como o especialista em mídia e tecnologia Ken Hillis sugere, que é simplesmente uma outra forma de “evitar o vazio e a falta de sentido da existência”? Ou, como a novelistaRoxane Gay recentemente ponderou, nossa capacidade de manipular nossos avatares digitais fornecem um bálsamo para o nosso profundo senso de impotência em face da injustiça e do ódio?
Ou — como o guru da tecnologia Amber Case se pergunta — estamos todos nos transformando em ciborgues?
Provavelmente não — mas isso depende de como você define ciborgue. Se um ciborgue é um humano que usa um pedaço de tecnologia ou uma máquina para restaurar funções perdidas ou melhorar suas capacidades e conhecimento, então as pessoas têm sido ciborgues por um bom tempo, e usar o smartphone não é diferente de usar um braço protético, conduzir um carro ou trabalhar numa linha de montagem.
Se você define uma sociedade ciborgue como uma em que as relações humanas são mediadas e moldadas pela tecnologia, então nossa sociedade certamente parece cumprir esse critério e nossos telefones desempenham um papel protagonista. Mas nossas relações e rituais têm sido mediadas por um bom tempo pela tecnologia. A ascensão de grandes centros urbanos — cubos de conectividade e inovação — não teria sido possível sem ferrovias e carros.
Máquinas, tecnologia, redes e informação não conduzem ou organizam a sociedade — as pessoas o fazem. Nós fazemos as coisas e usamos as coisas de acordo com a teia existente de relações sociais, econômicas e políticas e o equilíbrio de poder.
O smartphone, e a forma como ele molda e reflete as relações sociais existentes, não é mais metafísico do que os Ford Rangers que uma vez saíram da linha de montagem em Edison, New Jersey. O smartphone é tanto uma máquina como uma mercadoria. Sua produção é um mapa de poder, logística e exploração globais. Seu uso molda e reflete o confronto perpétuo entre os movimentos totalizantes do capital e a resistência do resto de nós.
No presente momento, a necessidade de capitalistas de explorar e mercantilizar é reforçada pelas formas pelas quais os smartphones são produzidos e consumidos, mas os ganhos do capital nunca são seguros e inatacáveis. Eles precisam ser renovados e defendidos a cada passo. Nós temos o poder de contestar e negar ganhos de capital, e devemos. Talvez nossos telefones venham a calhar ao longo do caminho.
Nicole M. Aschoff é professora do Departamento de Sociologia da Universidade de Boston, editora da Jacobin Magazine e autora de “The New Prophets of Capital”.
Fonte: Jacobin Magazine
Tradução: Tiago Madeira -
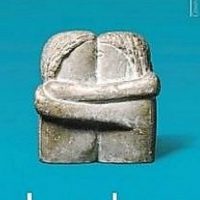
JUDAS, de Amós Oz
 O maior escritor israelense volta-se para o ícone máximo da traição no ocidente, mas absolve-o do pecado supremo de entregar Jesus aos carrascos romanos: Judas Iscariotes queria apenas que seu ato fosse a causa de um novo milagre. O nazareno deveria ter descido da cruz e submetido romanos e os vis judeus que os serviam à vergonha e à extinção. Mas não foi o que ocorreu e a Judas só restou enforcar-se ao entardecer.
O maior escritor israelense volta-se para o ícone máximo da traição no ocidente, mas absolve-o do pecado supremo de entregar Jesus aos carrascos romanos: Judas Iscariotes queria apenas que seu ato fosse a causa de um novo milagre. O nazareno deveria ter descido da cruz e submetido romanos e os vis judeus que os serviam à vergonha e à extinção. Mas não foi o que ocorreu e a Judas só restou enforcar-se ao entardecer.Em seu romance, Amós Oz traça um paralelo entre o discípulo que traiu Jesus e David Ben Gurion, o líder judeu que no final dos anos 50 consolidou o estado de Israel contra o entorno regional árabe. O confronto ali se iniciava e até hoje se mantém. A certa altura um dos personagens afirma: “judeus e árabes foram, ao longo da história, vítimas da Europa cristã. Os árabes foram humilhados pelas potencias colonialistas e sofreram a vergonha da opressão e da exploração e gerações e mais gerações de judeus sofreram degradação, banimento, perseguições, expulsões, morticínio e por fim o assassinato de um povo que não teve precedentes na história do mundo. Duas vítimas da Europa cristã. Será que não existe um fundamento histórico profundo para relações de amizade e compreensão entre eles?”
O romance levanta a questão, pouco absorvida pelo grande público, de que a colonização inglesa alimentou os conflitos religiosos para se beneficiar. A antiga técnica de dividir para governar. Há também uma severa crítica ao expansionismo israelense resumida nas seguintes palavras: “O grande mal é que os oprimidos anseiam secretamente em se tornar opressores de seus opressores. Os perseguidos sonham em ser perseguidores. Os escravos sonham em ser senhores.”
A obra consolida a posição de Amós Oz não só como um dos autores máximos de Israel, mas de todo o Oriente Médio.
Flavio Braga é escritor
-
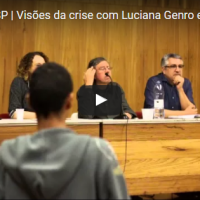
Debate: visões da crise, com Luciana Genro e Alexandre Padilha
No dia 20 de maio, o Centro de Estudos dos Direitos da Cidadania (Cenedic) e o Laboratório de Estudos Marxistas (Le-Marx) realizaram no Auditório da Biblioteca Brasiliana da USP o debate: Visões da Crise, com Luciana Genro e Alexandre Padilha. Confira a íntegra da atividade.


