“Fui surpreendido com uma declaração de um delegado da polícia civil que atesta que o Amarildo, que está desaparecido desde o dia 14 de julho, e sua esposa eram traficantes. O delegado não está mais no caso, nem na delegacia que apurou a questão e, neste momento, em que todas as investigações se voltam para a necessidade de se explicar onde está o Amarildo, estranhamente vem a declaração do delegado. Estou acompanhando esse caso desde o início, tenho ido sistematicamente à Rocinha, como fui hoje. Ele é ajudante de pedreiro, com contracheques, que foram apresentados aos policiais que o levaram para apuração na UPP. (…) O delegado comete uma das coisas mais perversas que eu já vi: a inversão do ônus da prova. Se você é pobre, favelado, de origem nordestina ou é negro, e desapareceu : talvez você tenha culpa de alguma coisa. Esse raciocínio de criminalização das favelas é uma das coisas mais perversas que eu já vi acontecer promovido por autoridades públicas do Rio de Janeiro. Criminaliza a vítima para desqualificar a denúncia. (…) A Comissão de Direitos Humanos está aqui protestando contra essa versão de um delegado já afastado do caso e, neste domingo, que é dia dos pais, nós estaremos ao lado dos filhos de Amarildo, na Rocinha, de manhã”, afirmou Marcelo Freixo, no plenário da Alerj, nesta quinta-feira, 8/8/2013.
Autor: Redação Lauro Campos
-
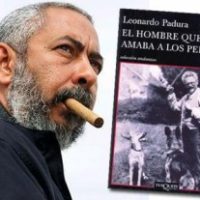
“Se houve um assomo de Trotsky em Cuba, foi o Che”
Seu romance sobre Trotsky e seu assassino causou impacto em nosso país. O escritor cubano fala no sábado na Feira.

“Lutarei para ser a cada dia um pouco mais livre.” No domingo 17 de fevereiro, na Sala Guillén da Fortaleza de la Cabaña de La Habana, o escritor Leonardo Padura recebeu o Prêmio Nacional de Literatura 2012. A última vez que Leonardo Padura esteve na Argentina foi em 1994. Ainda fazia barulho a queda da URSS, o “período especial” começava em Cuba e aqui nos ensinavam que um peso era igual a um dólar. O cubano apenas publicara as primeiras histórias de seu detetive Mario Conde em Havana e passeava por esta Feira como um perfeito desconhecido. “Eu era outro escritor” diz agora, nesta entrevista a Clarín. Grande parte desse salto para a fama, ele o deve a El hombre que amaba a los perros [O homem que amava os cachorros]. Publicou esse livro em 2009 e desde então não para de ganhar leitores e prêmios, em Cuba e na França, no México e na Espanha. Mas aqui ocorreu algo curioso: a difusão dessa obra se fez boca a boca. Assim, Padura – que veio ao país convidado pela revista Nueva Sociedad – é hoje o autor mais vendido de Tusquets nesta Feira, superando Milan Kundera, Henning Mankell e o próprio Haruki Murakami. O cubano engoliu o japonês, o sueco e o checo também.
Em seu livro mais celebrado, Padura desanda os caminhos do assassinato de Trotsky. Indaga sobre este fato crucial para o Século XX, através da vítima e de seu vitimário, Ramón Mercader. Faz isso a partir de uma perspectiva cubana, a sua, a de um autor que sempre viveu em Havana. Mas é um livro universal. “Levei cinco anos escrevendo-o, com uma busca documental intensa e extensa. De Trotsky havia abundante informação, de Mercader quase nada”, recorda. Por que elegeu contar esta história? Padura diz que aí pode haver algo de nostálgico, mas também do resentimento que lhe causou encontrar os culpados. “De pronto entendi algumas das razões pelas quais se perverteu a utopia. O papel do stalinismo, a herança de sua figura, foi algo terrível”, diz e o assume na própria carne. Está falando de uma revolução traída, quando conta a morte de Trotsky.
Para dinamizar a história, Padura inventou o escritor Iván Cárdenas Maturell, que em 1977 conhece um tal López, uma enigmática personagem que passeia pela praia dos formosos galgos russos, um homem disposto a lhe confiar os detalhes mais profundos da vida de Ramón Mercader, o verdugo de Trotsky. Trotsky tem cachorros, Mercader os tem, também Iván.
– Que são os cachorros, Padura?
– Recursos que utilizo para ir além das perspectivas históricas e encontrar elementos de permanência.
Diz isso. E fala de outros dois romances seus, um anterior, no qual a personagem é o poeta José María Heredia, e de Herejes, seu novo trabalho, que dará à luz em setembro e que está enfocado em Rembrandt, o pintor. “Me identifiquei com Heredia quando descobri que ele gostava de um prato cubano que eu também gosto: a sopa de quimbombó . No caso de Rembrandt, me aproximou dele o fato de que padecera dores de dente, de que quase não tivesse dentadura porque gostava de comer caramelos na Holanda”. Cães, guisados, dor de dente. Assim Padura se mete nas personagens. Assim e com muita investigação bibliográfica.
Enquanto investigava para El hombre que amaba… [O homem que amava…], o cubano ia acumulando bronca. “Encontrei um documento que me comoveu. Um editorial de um jornal mexicano comunista dos anos 30, stalinista claro, celebrava a morte de Sandino. Dizia que morrera como um pequeno burguês e sozinho como um cão, porque a visão de Sandino violava os códigos que se queriam impor através da Terceira Internacional. Quando vi essa mesquinharia comecei a me preocupar por essas histórias perversas”.
Essa perversão, essa cegueira a reflete Mercader na história. Uma cegueira que arrasou figuras como Andreu Nin, o trotskista espanhol que dirigiu o POUM, e os mesmíssimos filhos de Trotsky, entre tantos outros. Através de Iván, o escritor cubano que dirige a história, Padura busca explicar Mercader, ao mesmo tempo que vai se aproximando da figura de Trotsky, cuja magnitude o envolve e cativa de vez. Liev Davídovich Bronstein, Trotsky.
Padura sustenta que um dos problemas da literatura cubana é a sua falta de universalidade. Essa é sua grande preocupação, algo que aprendeu com Alejo Carpentier, que por sua vez o aprendera com Miguel de Unamuno. Celebra que a literatura tenha hoje um espaço maior do que o da imprensa em Cuba. Mas sofre pela falta de difusão.
– Quando alguém no ano 2040 ler um de meus romances e ler um jornal Granma vai pensar que se trata de dois países diferentes. E creio que o meu país é mais parecido com a realidade do que o do jornal.
E acrescenta que esse é um problema que o próprio governo cubano critica. “Conheço pouco o fenômeno dos blogs, mas nele há um embrião de um jornalismo diferente”, sugere. E diz que sua independência como escritor quiçá radique em que nunca militou na Juventude Comunista. “Eles não me quiseram ”, esclarece, e diz que se passou muito tempo até que notasse a importância desse fato. Hoje, Padura tem melhores condições de vida que a maioria de seus compatriotas. E celebra algumas das mudanças que se estão produzindo na ilha, ainda que se lhe mude a expressão quando conta que está encerrado em trâmites burocráticos para comprar um carro: “Não fazem ideia”.
– Há dois Padura, um autor de policiais e outro que faz um trabalho mais documental e jornalístico?
– Não. Minha obra tem uma preocupação fundamental, a busca das orígens. Nos policiais há uma busca, a da verdade. E em romances como El hombre… [Ohomem…] também utilizei certas estruturas do romance policial para marcar mais essa busca duma verdade que pode ser filosófica, histórica ou política.
– Conde, o detetive de seus policiais, e Iván, o escritor que desenrola a história de Mercader, têm pontos comuns então…
– Conde é a expressão de minha geração, uma figura metafórica. Iván é uma personagem simbólica à qual se lhe agregaram elementos que o superam como individuo. Tem uma vida tão cheia de frustrações e contradições que transpassa o verossímil. Eu precisava desse ajuste para que essa única personagem significasse o que pode haver sido a frustração de um pensamento, de uma vocação dos ideais de uma pessoa em Cuba.
– Iván, ou Padura, sente compaixão por Mercader?
– Sente-se tentado à compaixão. E é possível que a sinta, mas não estou seguro. Esse foi um matiz que discutí muito comigo mesmo e com os amigos que sempre leem meus livros. No fundo, Mercader também foi uma vítima, mas foi um homem que obedeceu e nessa obediência chegou à perversão ética mais elementar. Não lhe serviu de nada, porque o destinaram ao ostracismo, primeiro em Moscou e logo em Cuba, vivendo sob outra identidade. Quiçá isso promova a compaixão, mas não tenho a resposta ainda.
– Me permito uma crítica: os espiões russos, a NKVD, parecem tirados de um filme de Hollywood.
– O espiões são parecidos em todo o mundo. É um trabalho sujo, no qual você tem que mentir, usar os outros, essa essência é comum. Mas não nego que possa haver uma influência de John LeCarré. Seus espiões, homens infelizes e incompletos, me fascinam.
– Houve um Trotsky na revolução cubana?
– Não creio. A culpa da virada política de Cuba, para muitos, foi da política norteamericana. Naqueles anos, os Estados Unidos estavam acostumados a governar a América Latina duma maneira e a revolução rompeu os esquemas. Nessa época, o Che Guevara começa a fazer, a partir de seus cargos de poder, determinadas leituras e declarações que, vistas em perspectiva, resultam antissoviéticas. Se houve um assomo de Trotsky em Cuba, esse foi o argentino. Se conta que o Che teve uma relação muito próxima com o grupo de trotskistas cubanos originários. No principio da revolução, o projeto socialista do governo cubano não estaba definido. Mas ali havia, sim, um grupo de revolucionários trotskista, com os quais o Che se relacionava. Houve um momento em que o Che saiu de Cuba e, quando regressou, havíam afastado de seus postos muitos desses trotskistas. E, graças ao Che, muitos recuperaram seus postos. Isto quer dizer que havia um conhecimento e uma simpatia com o pensamento trotskista.
– Havana, Cuba, é um ímã para o mundo. É vantajoso escrever a partir de lá?
– Sempre a cultura cubana foi maior do que a geografía da ilha. Escrever desde Havana dá certa vantagem. Como Buenos Aires, tem uma tradição cultural reconhecida.
– O que resgataria de sua experiência para o futuro da vida socialista?
– Há uma experiência que considero fundamental. É a de poder realizar a liberdade individual. O indivíduo que não pode exercitar sua própria liberdade não pode construir uma sociedade livre. É preciso resolver os problemas individuais para logo resolver os coletivos. Um dos problemas do socialismo é que se fez ao revés. Se você diz a um crente que ele tem que deixar de crêr, para essa pessoa, este mundo já não é o melhor.
Fonte: Clarin, 08/05/13
Tradução: Sergio Granja
Participação extraordinária na Feira do Livro de Buenos Aires
Buenos Aires, 14 mai. (Prensa Latina) – A Feira Internacional do Livro de Buenos Aires atraiu um 1,12 milhão de pessoas, que foram a seus pavilhões no recinto La Rural, informaram seus organizadores no encerramento deste megaevento.
A edição 39 desta Feira, a maior de seu tipo no mundo hispânico, foi encerrada ontem à noite com chave de ouro, apresentando uma programação variada no bairro Palermo, no centro. Hoje circulam estatísticas admiráveis sobre seu desenvolvimento.
De acordo com os organizadores, reunidos pela Fundação El Libro, participaram ao redor de 1.600 delegações de escolas, assistiram delegações de 20 países e de 18 províncias argentinas.
Nos 45 mil metros quadrados que ocupou, foram abertos espaços dedicados aos leitores, crianças e jovens, profissionais, educadores, editores, livreiros e público curioso em geral.
Contou com 460 expositores distribuídos em sete pavilhões e cerca de mil atividades culturais foram realizados em 10 salas.
Além disso, 450 mil internautas visitaram o recinto da Feira, que contou adicionalmente com 90 mil amigos no Facebook e 20 mil seguidores no Twitter, divulgaram nesta terça-feira os responsáveis pelo departamento digital.
Aproximadamente 500 autores participaram do megaevento, destacando-se entre eles o representante da Teologia da Libertação, Leonardo Boff.
Também estiveram outros como Florencia Bonelli, Claudio María Domínguez, Nik, Arturo Pérez-Reverte, Verónica de Andrés, Florencia Andrés, John Katzenbach, Silvia Freire, Gabriel Rolón e Felipe Pigna.
Participaram ainda María Isabel Sánchez, Javier Cerca, Marcos Aguinis, Claudia Gray, Rosa Montero, Luis Pescetti e Leonardo Padura, entre outros.
Por iniciativa do Coletivo Imaginário, da Rede Solidária e da Fundação El Libro – e graças à colaboração do público – foram doados 29 mil livros novos e usados que serão distribuídos a seis bibliotecas, dois jardins de infância, dois colégios primários e um secundário de La Plata.
Isso tudo apesar dessa cidade ter sido severamente prejudicada por uma tempestade sem precedentes no começo de abril que provocou inundações avassaladoras.
-
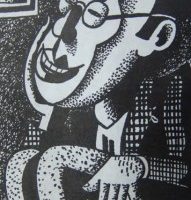
Primeiro de Maio

Mário de Andrade Os outros carregadores mais idosos meio que tinham caçoado do bobo, viesse trabalhar que era melhor, trabalho deles não tinha feriado. Mas o 35 retrucava com altivez que não carregava mala de ninguém, havia de celebrar o dia deles. E agora tinha o grande dia pela frente.
Dia dele… Primeiro quis tomar um banho pra ficar bem digno de existir. A água estava gelada, ridente, celebrando, e abrira um sol enorme e frio lá fora. Depois fez a barba. Barba era aquela penuginha meio loura, mas foi assim mesmo buscar a navalha dos sábados, herdada do pai, e se barbeou. Foi se barbeando. Nu só da cintura pra cima por causa da mamãe por ali, de vez em quando a distância mais aberta do espelhinho refletia os músculos violentos dele, desenvolvidos desarmoniosamente nos braços, na peitaria, no cangote, pelo esforço quotidiano de carregar peso. O 35 tinha um ar glorioso e estúpido. Porém ele se agradava daqueles músculos intempestivos, fazendo a barba.
Ia devagar porque estava matutando. Era a esperança dum turumbamba macota, em que ele desse uns socos formidáveis nas ruças dos polícias. Não teria raiva especial dos polícias, era apenas a ressonância vaga daquele dia. Com seus vinte anos fáceis, o 35 sabia, mais da leitura dos jornais que de experiência, que o proletariado era uma classe oprimida. E os jornais tinham anunciado que se esperava grandes “motins” do Primeiro de Maio, em Paris, em Cuba, no Chile, em Madri.
O 35 apressou a navalha de puro amor. Era em Madri, no Chile que ele não tinha bem lembrança se ficava na América mesmo, era a gente dele… Uma piedade, um beijo lhe saía do corpo todo, feito proteção sadia de macho, ia parar em terras não sabidas, mas era a gente dele, defender, combater, vencer… Comunismo? … Sim, talvez fosse isso. Mas o 35 não sabia bem direito, ficava atordoado com as notícias, os jornais falavam tanta coisa, faziam tamanha mistura de Rússia, só sublime ou só horrenda, e o 35 infantil estava por demais machucado pela experiência pra não desconfiar, o 35 desconfiava. Preferia o turumbamba porque não tinha medo de ninguém, nem do Carnera, ah, um soco bem nas ruças dum polícia… A navalha apressou o passo outra vez. Mas de repente o 35 não imaginou mais em nada por causa daquele bigodinho de cinema que era a melhor preciosidade de todo o seu ser. Lembrou aquela moça do apartamento, é verdade, nunca mais tinha passado lá pra ver se ela queria outra vez, safada! Riu.
Afinal o 35 saiu, estava lindo. Com a roupa preta de luxo, um nó errado na gravata verde com listinhas brancas e aqueles admiráveis sapatos de pelica amarela que não pudera sem comprar. O verde da gravata, o amarelo dos sapatos, bandeira brasileira, tempos de grupo escolar… E o 35 comoveu num hausto forte, querendo bem o seu imenso Brasil, imenso colosso gigante, foi andando depressa, assobiando. Mas parou de sopetão e se orientou assustado. O caminho não era aquele, aquele era o caminho do trabalho.
Uma indecisão indiscreta o tornou consciente de novo que era o Primeiro de Maio, ele estava celebrando e não tinha o que fazer. Bom, primeiro decidiu ir na cidade pra assuntar alguma coisa. Mas podia seguir por aquela direção mesmo, era uma volta, mas assim passava na Estação da Luz dar um bom-dia festivo aos companheiros trabalhadores. Chegou lá, gesticulou o bom-dia festivo, mas não gostou porque os outros riram dele, bestas. Só que em seguida não encontrou nada na cidade, tudo fechado por causa do grande dia Primeiro de Maio. Pouca gente na rua. Deviam de estar almoçando já, pra chegar cedo no maravilhoso jogo de futebol escolhido pra celebrar o grande dia. Tinha, mas era muito polícia, polícia em qualquer esquina, em qualquer porta cerrada de bar e de café, nas joalherias, quem pensava em roubar! nos bancos, nas casas de loteria. O 35 teve raiva dos polícias outra vez.
E como não encontrasse mesmo um conhecido, comprou o jornal pra saber. Lembrou de entrar num café, tomar por certo uma média, lendo. Mas a maioria dos cafés estavam de porta cerrada e o 35 mesmo achou que era preferível economizar dinheiro por enquanto, porque ninguém não sabia o que estava pra suceder. O mais prático era um banco de jardim, com aquele sol maravilhoso. Nuvens? umas nuvenzinhas brancas, ondulando no ar feliz. Insensivelmente o 35 foi se encaminhando de novo para os lados do Jardim da Luz. Eram os lados que ele conhecia, os lados em que trabalhava e se entendia mais. De repente lembrou que ali mesmo na cidade tinha banco mais perto, nos jardins do Anhangabaú. Mas o Jardim da Luz ele entendia mais. Imaginou que a preferência vinha do Jardim da Luz ser mais bonito, estava celebrando. E continuou no passo em férias.
Ao atravessar a estação achou de novo a companheirada trabalhando. Aquilo deu um mal-estar fundo nele, espécie não sabia bem, de arrependimento, talvez irritação dos companheiros, não sabia. Nem quereria nunca decidir o que estava sentindo já… Mas disfarçou bem, passando sem parar, se dando por afobado, virando pra trás com o braço ameaçador, “Vocês vão ver!…” Mas um riso aqui, outro riso acolá, uma frase longe, os carregadores companheiros, era tão amigo deles, estavam caçoando. O 35 se sentiu bobo, impossível recusar, envilecido. Odiou os camaradas. Andou mais depressa, entrou no jardim em frente, o primeiro banco era a salvação, sentou-se. Mas dali algum companheiro podia divisar ele e caçoar mais, teve raiva. Foi lá no fundo do jardim campear banco escondido. Já passavam negras disponíveis por ali. E o 35 teve uma idéia muito não pensada, recusada, de que ele também estava uma espécie de negra disponível, assim. Mas não estava não, estava celebrando, não podia nunca acreditar que estivesse disponível e não acreditou. Abriu o jornal. Havia logo um artigo muito bonito, bem pequeno, falando na nobreza do trabalho, nos operários que eram também os “operários da nação”, é isso mesmo. O 35 se orgulhou todo comovido. Se pedissem pra ele matar, ele matava roubava, trabalhava grátis, tomado dum sublime desejo de fraternidade, todos os seres juntos, todos bons… Depois vinham as notícias. Se esperavam “grandes motins” em Paris, deu uma raiva tal no 35. E ele ficou todo fremente, quase sem respirar, desejando “motins” (devia ser turumbamba) na sua desmesurada força física, ah, as ruças de algum… polícia? polícia. Pelo menos os safados dos polícias.
Pois estava escrito em cima do jornal: em São Paulo a Polícia proibira comícios na rua e passeatas, embora se falasse vagamente em motins de tarde no Largo da Sé. Mas a polícia já tomara todas as providências, até metralhadoras, estavam em cima do jornal, nos arranha-céus, escondidas, o 35 sentiu um frio. O sol brilhante queimava, banco na sombra? Mas não tinha, que a Prefeitura, pra evitar safadez dos namorados, punha os bancos só bem no sol. E ainda por cima era aquela imensidade de guardas e polícias vigiando que nem bem a gente punha a mão no pescocinho dela, trilo. Mas a Polícia permitiria a grande reunião proletária, com discurso do ilustre Secretário do Trabalho, no magnífico pátio interno do Palácio das Indústrias, lugar fechado! A sensação foi claramente péssima. Não era medo, mas por que que a gente havia de ficar encurralado assim! é! E pra eles depois poderem cair em cima da gente, (palavrão)! Não vou! não sou besta! Quer dizer: vou sim! desaforo! (palavrão), socos, uma visão tumultuaria, rolando no chão, se machucava mas não fazia mal, saíam todos enfurecidos do Palácio das Indústrias, pegavam fogo no Palácio das Indústrias, não! a indústria é a gente, “operários da nação” pegavam fogo na igreja de São Bento mais próxima que era tão linda por “drento”, mas pra que pegar fogo em nada! (O 35 chegara até a primeira comunhão em menino…), é melhor a gente não pegar fogo em nada; vamos no Palácio do Governo, exigimos tudo do Governo, vamos com o general da Região Militar, deve ser gaúcho, gaúcho só dá é farda, pegamos fogo no palácio dele. Pronto. Isso o 35 consentiu, não porque o tingisse o menor separatismo (e o aprendido no grupo escolar?) mas nutria sempre uma espécie de despeito por São Paulo ter perdido na revolução de 32. Sensação aliás quase de esporte, questão de Palestra-Coríntians, cabeça inchada, porque não vê que ele havia de se matar por causa de uma besta de revolução diz-que democrática, vão “eles”!… Se fosse o Primeiro de Maio, pêlos menos… O 35 percebeu que se regava todo por “drento” dum espírito generoso de sacrifício. Estava outra vez enormemente piedoso, morreria sorrindo, morrer… Teve uma nítida, envergonhada sensação de pena. Morrer assim tão lindo, tão moço. A moça do apartamento…
Salvou-se lendo com pressa, oh! os deputados trabalhistas chegavam agora às nove horas, e o jornal convidavam (sic) o povo pra ir na Estação do Norte (a estação rival, desapontou) pra receber os grandes homens. Se levantou mandado, procurou o relógio da torre da Estação da Luz, ora! não dava mais tempo! quem sabe se dá!
Foi correndo, estava celebrando, raspou distraído o sapato lindo na beira de tijolo do canteiro (palavrão), parou botando um pouco de guspe no raspão, depois engraxo, tomou o bonde pra cidade, mas dando uma voltinha pra não passar pelos companheiros da Estação. Que alvoroço por dentro, ainda havia de aplaudir os homens. Tomou o outro bonde pro Brás. Não dava mais tempo, ele percebia, eram quase nove horas quando chegou na cidade, ao passar pelo Palácio das Indústrias, o relógio da torre indicava nove e dez, mas o trem da Central sempre atrasa, quem sabe? bom: às quatorze horas venho aqui, não perco, mas devo ir, são nossos deputados no tal de congresso, devo ir. Os jornais não falavam nada dos trabalhistas, só falavam dum que insultava muito a religião e exigia divórcio, o divórcio o 35 achava necessário (a moça do apartamento…), mas os jornais contavam que toda a gente achava graça no homenzinho “Vós, burgueses”, e toda a gente, os jornais contavam, acabaram se rindo do tal do deputado. E o 35 acabou não achando mais graça nele. Teve até raiva do tal, um soco é que merecia. E agora estava torcendo pra não chegar com tempo na Estação.
Chegou tarde. Quase nada tarde, eram apenas nove e quinze. Pois não havia mais nada, não tinha aquela multidão que ele esperava, parecia tudo normal. Conhecia alguns carregadores dali também e foi perguntar. Não, não tinham reparado nada, decerto foi aquele grupinho que parou na porta da Estação, tirando fotografia Aí outro carregador conferiu que eram os deputados sim, porque tinham tomado aqueles dois sublimes automóveis oficiais. Nada feito.
Ao chegar na esquina o 35 parou pra tomar o bonde, mas vários bondes passaram. Era apenas um moço bem-vestidinho, decerto à procura de emprego por aí, olhando a rua. Mas de repente sentiu fome e se reachou. Havia por dentro, por “drento” dele um desabalar neblinoso de ilusões, de entusiasmo e uns raios fortes de remorso. Estava tão desagradável, estava quase infeliz… Mas como perceber tudo isso se ele precisava não perceber!… O 35 percebeu que era fome.
Decidiu ir a-pé pra casa, foi a-pé, longe, fazendo um esforço penoso para achar interesse no dia. Estava era com fome, comendo aquilo passava. Tudo deserto, era por ser feriado, Primeiro de Maio. Os companheiros estavam trabalhando, de vez em quando um carrego, o mais eram conversas divertidas, mulheres de passagem, comentadas, piadas grossas com as mulatas do jardim, mas só as bem limpas mais caras, que ele ganhava bem, todos simpatizavam logo com ele, ora por que que hoje me deu de lembrar aquela moça do apartamento!… Também: moça morando sozinha é no que dá. Em todo caso, pra acabar o dia era uma idéia ir lá, com que pretexto?… Devia ter ido em Santos, no piquenique da Mobiliadora, doze paus o convite, mas o Primeiro de Maio… Recusara, recusara repetindo o “não” de repente com raiva, muito interrogativo, se achando esquisito daquela raiva que lhe dera. Então conseguiu imaginar que esse piquenique monstro, aquele jogo de futebol que apaixonava eles todos, assim não ficava ninguém pra celebrar o Primeiro de Maio, sentiu-se muito triste, desamparado. E melhor tomo por esta rua. Isso o 35 percebeu claro, insofismável que não era melhor, ficava bem mais longe. Ara, que tem! Agora ele não podia se confessar mais que era pra não passar na Estação da Luz e os companheiros não rirem dele outra vez. E deu a volta, deu com o coração cerrado de angústia indizível, com um vento enorme de todo o ser soprando ele pra junto dos companheiros, ficar lá na conversa, quem sabe? trabalhar… E quando a mãe lhe pôs aquela esplêndida macarronada celebrante sobre a mesa, o 35 foi pra se queixar “Estou sem fome, mãe”. Mas a voz lhe morreu na garganta.
Não eram bem treze horas e já o 35 desembocava no parque Pedro II outra vez, à vista do Palácio das Indústrias. Estava inquieto mas modorrento, que diabo de sol pesado que acaba com a gente, era por causa do sol. Não podia mais se recusar o estado de infelicidade, a solidão enorme, sentida com vigor. Por sinal que o parque já se mexia bem agitado. Dezenas de operários, se via, eram operários endomingados, vagueavam, por ali, indecisos, ar de quem não quer. Então nas proximidades do palácio, os grupos se apinhavam, conversando baixo, com melancolia de conspiração. Polícias por todo lado.
O 35 topou com o 486, grilo quase amigo, que policiava na Estação da Luz. O 486 achara jeito de não trabalhar aquele dia porque se pensava anarquista, mas no fundo era covarde. Conversaram um pouco de entusiasmo semostradeiro, um pouco de primeiro de maio, um pouco de “motim”. O 486 era muito valentão de boca, o 35 pensou. Pararam bem na frente do Palácio das Indústrias que fagulhava de gente nas sacadas, se via que não eram operários, decerto os deputados trabalhistas, havia até moças, se via que eram distintas, todos olhando para o lado do parque onde eles estavam.
Foi uma nova sensação tão desagradável que ele deu de andar quase fugindo, polícias, centenas de polícias, moderou o passo como quem passeia. Nas ruas que davam pro parque tinha cavalarias aos grupos, cinco, seis escondidos na esquina, querendo a discrição de não ostentar força e ostentando. Os grilos ainda não faziam mal, são uns (palavrão)! O palácio dava idéia duma fortaleza enfeitada, entrar lá dentro, eu!… O 486 então, exaltadíssimo, descrevia coisas piores, massacres horrendos de “proletários” lá dentro, descrevia tudo com a visibilidade dos medrosos, o pátio fechado, dez mil proletários no pátio e os polícias lá em cima nas janelas, fazendo pontaria na maciota.
Mas foi só quando aqueles três homens bem-vestidos, se via que não eram operários, se dirigindo aos grupos vagueantes, falaram pra eles em voz alta: “Podem entrar! não tenham vergonha! podem entrar!” com voz de mandando assim na gente… O 35 sentiu medo franco. Entrar ele! Fez como os outros operários: era impossível assim soltos, desobedecer aos três homens bem-vestidos, com voz mandando, se via que não eram operários. Foram todos obedecendo, se aproximando das escadarias, mas o maior número longe da vista dos três homens, torcia caminho, iam se espalhar pelas outras alamedas do parque, mais longe.
Esses movimentos coletivos de recusa, acordaram a covardia do 35. Não era medo, que ele se sentia fortíssimo, era pânico. Era um puxar unânime, uma fraternidade, era carícia dolorosa por todos aqueles companheiros fortes tão fracos que estavam ali também pra… pra celebrar? pra… O 35 não sabia mais pra quê. Mas o palácio era grandioso por demais com as torres e as esculturas, mas aquela porção de gente bem-vestida nas escadas enxergando ele (teve a intuição violenta de que estava ridiculamente vestido), mas o enclausuramento na casa fechada, sem espaço de liberdade, sem ruas abertas pra avançar, pra correr dos cavalarias, pra brigar… E os polícias na maciota, encarapitados nas janelas, dormindo na pontaria, teve ódio do 486, idiota medroso! De repente o 35 pensou que ele era moço, precisava se sacrificar: se fizesse um modo bem-visível de entrar sem medo no palácio, todos haviam de seguir o exemplo dele. Pensou, não fez. Estava tão opresso, se desfibrara tão rebaixado naquela mascarada de socialismo, naquela desorganização trágica, o 35 ficou desolado duma vez. Tinha piedade, tinha amor, tinha fraternidade, e era só. Era uma sarça ardente, mas era sentimento só. Um sentimento profundíssimo, queimando, maravilhoso, mas desamparado, mas desamparado. Nisto vieram uns cavalarias, falando garantidos:
— Aqui ninguém não fica não! a festa é lá dentro, me’rmão! no parque ninguém não pára não!
Cabeças-chatas… E os grupos deram de andar outra vez, de cá para lá, riscando no parque vasto, com vontade, com medo, falando baixinho, mastigando incerteza. Deu um ódio tal no 35, um desespero tamanho, passava um bonde, correu, tomou o bonde sem se despedir do 486, com ódio do 486, com ódio do primeiro de maio, quase com ódio de viver.
O bonde subia para o centro mais uma vez. Os relógios marcavam quatorze horas, decerto a celebração estava principiando, quis voltar, dava muito tempo, três minutos pra descer a ladeira, teve fome. Não é que tivesse fome, porém o 35 carecia de arranjar uma ocupação senão arrebentava. E ficou parado assim, mais de uma hora, mais de duas horas, no Largo da Sé, diz-que olhando a multidão.
Acabara por completo a angústia. Não pensava, não sentia mais nada. Uma vagueza cruciante, nem bem-sentida, nem bem-vivida, inexistência fraudulenta, cínica, enquanto o primeiro de maio passava. A mulher de encarnado foi apenas o que lhe trouxe de novo à lembrança a moça do apartamento, mas nunca que ele fosse até lá, não havia pretexto, na certa que ela não estava sozinha. Nada. Havia uma paz, que paz sem cor por dentro…
Pelas dezessete horas era fome, agora sim, era fome. Reconheceu que não almoçara quase nada, era fome, e principiou enxergando o mundo outra vez. A multidão já se esvaziava, desapontada, porque não houvera nem uma briguinha, nem uma correria no Largo da Sé, como se esperava. Tinha claros bem largos, onde os grupos dos polícias resplandeciam mais. As outras ruas do centro, essas então quase totalmente desertas. Os cafés, já sabe, tinham fechado, com o pretexto magnânimo de dar feriado aos seus “proletários” também.
E o 35 inerme, passivo, tão criança, tão já experiente da vida, não cultivou vaidade mais: foi se dirigindo num passo arrastado para a Estação da Luz, pra os companheiros dele, esse era o domínio dele. Lá no bairro os cafés continuavam abertos, entrou num, tomou duas médias, comeu bastante pão com manteiga, exigiu mais manteiga, tinha um fraco por manteiga, não se amolava de pagar o excedente, gastou dinheiro, queria gastar dinheiro, queria perceber que estava gastando dinheiro, comprou uma maçã bem rubra, oitocentão! foi comendo com prazer até os companheiros. Eles se ajuntaram, agora sérios, curiosos, meio inquietos, perguntando pra ele. Teve um instinto voluptuoso de mentir, contar como fora a celebração, se enfeitar, mas fez um gesto só, (palavrão), cuspindo um muxoxo de desdém pra tudo.
Chegava um trem e os carregadores se dispersaram, agora rivais, colhendo carregos em porfia. O 35 encostou na parede, indiferente, catando com dentadinhas cuidadosas os restos da maçã, junto aos caroços. Sentia-se cômodo, tudo era conhecido velho, os choferes, os viajantes. Surgiu um farrancho que chamou o 22. Foram subir no automóvel mas afinal, depois de muita gritaria, acabaram reconhecendo que tudo não cabia no carro. Era a mãe, eram as duas velhas, cinco meninos repartidos pêlos colos e o marido. Tudo falando: “Assim não serve não! As malas não vão não!” Aí o chofer garantiu enérgico que as malas não levava, mas as maletas elas “não largavam não”, só as malas grandes que eram quatro. Deixaram elas com o 22, gritaram a direção e partiram na gritaria. Mais cabeça chata, o 35 imaginou com muita aceitação.
O 22 era velhote. Ficou na beira da calçada com aquelas quatro malas pesadíssimas, preparou a correia, mas coçou a cabeça.
— Deixe que te ajudo, chegou o 35.
E foi logo escolhendo as duas malas maiores, que ergueu numa só mão, num esforço satisfeito de músculos. O 22 olhou pra ele, feroz, imaginando que 35 propunha rachar o galho. Mas o 35 deu um soco só de pândega no velhote, que estremeceu socado e cambaleou três passos. Caíram na risada os dois. Foram andando.
[Contos Novos]
-

Ideias do Canário
 Um homem dado a estudos de ornitologia, por nome Macedo, referiu a alguns amigos um caso tão extraordinário que ninguém lhe deu crédito. Alguns chegam a supor que Macedo virou o juízo. Eis aqui o resumo da narração.
Um homem dado a estudos de ornitologia, por nome Macedo, referiu a alguns amigos um caso tão extraordinário que ninguém lhe deu crédito. Alguns chegam a supor que Macedo virou o juízo. Eis aqui o resumo da narração.No princípio do mês passado — disse ele, — indo por uma rua, sucedeu que um tílburi à disparada, quase me atirou ao chão. Escapei saltando para dentro de uma loja de belchior.
Nem o estrépito do cavalo e do veículo, nem a minha entrada fez levantar o dono do negócio, que cochilava ao fundo, sentado numa cadeira de abrir. Era um frangalho de homem, barba cor de palha suja, a cabeça enfiada em um gorro esfarrapado, que provavelmente não achara comprador. Não se adivinhava nele nenhuma história, como podiam ter alguns dos objetos que vendia, nem se lhe sentia a tristeza austera e desenganada das vidas que foram vidas.
A loja era escura, atulhada das coisas velhas, tortas, rotas, enxovalhadas, enferrujadas que de ordinário se acham em tais casas, tudo naquela meia desordem própria do negócio. Essa mistura, posto que banal, era interessante. Panelas sem tampa, tampas sem panela, botões, sapatos, fechaduras, uma saia preta, chapéus de palha e de pêlo, caixilhos, binóculos, meias casacas, um florete, um cão empalhado, um par de chinelas, luvas, vasos sem nome, dragonas, uma bolsa de veludo, dois cabides, um bodoque, um termômetro, cadeiras, um retrato litografado pelo finado Sisson, um gamão, duas máscaras de arame para o carnaval que há de vir, tudo isso e o mais que não vi ou não me ficou de memória, enchia a loja nas imediações da porta, encostado, pendurado ou exposto em caixas de vidro, igualmente velhas. Lá para dentro, havia outras coisas mais e muitas, e do mesmo aspecto, dominando os objetos grandes, cômodas, cadeiras, camas, uns por cima dos outros, perdidos na escuridão.
Ia a sair, quando vi uma gaiola pendurada da porta. Tão velha como o resto, para ter o mesmo aspecto da desolação geral, faltava-lhe estar vazia. Não estava vazia. Dentro pulava um canário. A cor, a animação e a graça do passarinho davam àquele amontoado de destroços uma nota de vida e de mocidade. Era o último passageiro de algum naufrágio, que ali foi parar íntegro e alegre como dantes. Logo que olhei para ele, entrou a saltar mais abaixo e acima de poleiro em poleiro, como se quisesse dizer que no meio daquele cemitério brincava um raio de sol. Não atribuo essa imagem ao canário, senão porque falo a gente retórica; em verdade, ele não pensou em cemitério nem sol, segundo me disse depois.
Eu, de envolta com o prazer que me trouxe aquela vista, senti-me indignado do destino do pássaro, e murmurei baixinho palavras de azedume.
— Quem seria o dono execrável deste bichinho, que teve ânimo de se desfazer dele por alguns pares de níqueis? Ou que mão indiferente, não querendo guardar esse companheiro de dono defunto, o deu de graça a algum pequeno, que o vendeu para ir jogar uma quiniela?
E o canário, quedando-se em cima do poleiro, trilou isto:
— Quem quer que sejas tu, certamente não estás em teu juízo. Não tive dono execrável, nem fui dado a nenhum menino que me vendesse. São imaginações de pessoa doente; vai-te curar, amigo…
— Como — interrompi eu, sem ter tempo de ficar espantado. Então o teu dono não te vendeu a esta casa? Não foi a miséria ou a ociosidade que te trouxe a este cemitério, como um raio de sol?
— Não sei que seja sol nem cemitério. Se os canários que tens visto usam do primeiro desses nomes, tanto melhor, porque é bonito, mas estou que confundes.
— Perdão, mas tu não vieste para aqui à toa, sem ninguém, salvo se o teu dono foi sempre aquele homem que ali está sentado.
— Que dono? Esse homem que aí está é meu criado, dá-me água e comida todos os dias, com tal regularidade que eu, se devesse pagar-lhe os serviços, não seria com pouco; mas os canários não pagam criados. Em verdade, se o mundo é propriedade dos canários, seria extravagante que eles pagassem o que está no mundo.
Pasmado das respostas, não sabia que mais admirar, se a linguagem, se as idéias. A linguagem, posto me entrasse pelo ouvido como de gente, saía do bicho em trilos engraçados. Olhei em volta de mim, para verificar se estava acordado; a rua era a mesma, a loja era a mesma loja escura, triste e úmida. O canário, movendo a um lado e outro, esperava que eu lhe falasse. Perguntei-lhe então se tinha saudades do espaço azul e infinito.
— Mas, caro homem, trilou o canário, que quer dizer espaço azul e infinito?
— Mas, perdão, que pensas deste mundo? Que coisa é o mundo?
— O mundo, redargüiu o canário com certo ar de professor, o mundo é uma loja de belchior, com uma pequena gaiola de taquara, quadrilonga, pendente de um prego; o canário é senhor da gaiola que habita e da loja que o cerca. Fora daí, tudo é ilusão e mentira.
Nisto acordou o velho, e veio a mim arrastando os pés. Perguntou-me se queria comprar o canário. Indaguei se o adquirira, como o resto dos objetos que vendia, e soube que sim, que o comprara a um barbeiro, acompanhado de uma coleção de navalhas.
— As navalhas estão em muito bom uso, concluiu ele.
— Quero só o canário.
Paguei-lhe o preço, mandei comprar uma gaiola vasta, circular, de madeira e arame, pintada de branco, e ordenei que a pusessem na varanda da minha casa, donde o passarinho podia ver o jardim, o repuxo e um pouco do céu azul.
Era meu intuito fazer um longo estudo do fenômeno, sem dizer nada a ninguém, até poder assombrar o século com a minha extraordinária descoberta. Comecei por alfabetar a língua do canário, por estudar-lhe a estrutura, as relações com a música, os sentimentos estéticos do bicho, as suas idéias e reminiscências. Feita essa análise filológica e psicológica, entrei propriamente na história dos canários, na origem deles, primeiros séculos, geologia e flora das ilhas Canárias, se ele tinha conhecimento da navegação, etc. Conversávamos longas horas, eu escrevendo as notas, ele esperando, saltando, trilando.
Não tendo mais família que dois criados, ordenava-lhes que não me interrompessem, ainda por motivo de alguma carta ou telegrama urgente, ou visita de importância. Sabendo ambos das minhas ocupações científicas, acharam natural a ordem, e não suspeitaram que o canário e eu nos entendíamos.
Não é mister dizer que dormia pouco, acordava duas e três vezes por noite, passeava à toa, sentia-me com febre. Afinal tornava ao trabalho, para reler, acrescentar, emendar.
Retifiquei mais de uma observação, — ou por havê-la entendido mal, ou porque ele não a tivesse expresso claramente. A definição do mundo foi uma delas. Três semanas depois da entrada do canário em minha casa, pedi-lhe que me repetisse a definição do mundo.
— O mundo, respondeu ele, é um jardim assaz largo com repuxo no meio, flores e arbustos, alguma grama, ar claro e um pouco de azul por cima; o canário, dono do mundo, habita uma gaiola vasta, branca e circular, donde mira o resto. Tudo o mais é ilusão e mentira.
Também a linguagem sofreu algumas retificações, e certas conclusões, que me tinham parecido simples, vi que eram temerárias, Não podia ainda escrever a memória que havia de mandar ao Museu Nacional, ao Instituto Histórico e às universidades alemãs, não porque faltasse matéria, mas para acumular primeiro todas as observações e ratificá-las. Nos últimos dias, não saía de casa, não respondia a cartas, não quis saber de amigos nem parentes. Todo eu era canário. De manhã, um dos criados tinha a seu cargo limpar a gaiola e por-lhe água e comida. O passarinho não lhe dizia nada, como se soubesse que a esse homem faltava qualquer preparo científico. Também o serviço era o mais sumário do mundo; o criado não era amador de pássaros.
Um sábado amanheci enfermo, a cabeça e a espinha doíam-me. O médico ordenou absoluto repouso; era excesso de estudo, não devia ler nem pensar, não devia saber sequer o que se passava na cidade e no mundo. Assim fiquei cinco dias; no sexto levantei-me, e só então soube que o canário, estando o criado a tratar dele, fugira da gaiola. O meu primeiro gesto foi para esganar o criado; a indignação sufocou-me, caí na cadeira, sem voz, tonto. O culpado defendeu-se, jurou que tivera cuidado, o passarinho é que fugira por astuto…
— Mas não o procuraram?
— Procuramos, sim, senhor; a princípio trepou ao telhado, trepei também, ele fugiu, foi para uma árvore, depois escondeu-se não sei onde. Tenho indagado desde ontem, perguntei aos vizinhos, aos chacareiros, ninguém sabe nada.
Padeci muito; felizmente, a fadiga estava passada, e com algumas horas pude sair à varanda e ao jardim. Nem sombra de canário. Indaguei, corri, anunciei, e nada. Tinha já recolhido as notas para compor a memória, ainda que truncada e incompleta, quando me sucedeu visitar um amigo, que ocupa uma das mais belas e grandes chácaras dos arrabaldes. Passeávamos nela antes de jantar, quando ouvi trilar esta pergunta:
— Viva, Sr. Macedo, por onde tem andado que desapareceu?
Era o canário; estava no galho de uma árvore. Imaginem como fiquei, e o que lhe disse. O meu amigo cuidou que eu estivesse doudo; mas que me importavam cuidados de amigos?
Falei ao canário com ternura, pedi-lhe que viesse continuar a conversação, naquele nosso mundo composto de um jardim e repuxo, varanda e gaiola branca e circular. . .
— Que jardim? que repuxo?
— O mundo, meu querido.
— Que mundo? Tu não perdes os maus costumes de professor. O mundo, concluiu solenemente, é um espaço infinito e azul, com o sol por cima.
Indignado, retorqui-lhe que, se eu lhe desse crédito, o mundo era tudo; até já fora uma loja de belchior. . .
— De belchior? trilou ele às bandeiras despregadas. Mas há mesmo lojas de belchior?
-

O escravismo entre o passado e o futuro
O filme “O som ao redor”, de Kléber Mendonça Filho, expõe a incompreensão do Brasil sobre si mesmo e sobre as raízes históricas da violência que atravessa nossa vida urbana.
Recife, berço da bárbara civilização brasileira. Num bairro que sintetiza o Brasil, ilhas de luxo em meio ao oceano de favelas. Empregadas domésticas, mulheres negras, lavam as roupas, passam o café na hora certa, são pontuais na faxina. A riqueza hereditária acolhe as novas gerações de patrões. Enquanto cada um cumpre suas funções cotidianas, entre ordens, favores e gestos cordiais, há uma tensão subterrânea que cresce, um susto que está por vir. Por isso, mais câmeras de segurança, alarmes, medo, grades elétricas, luzes automáticas, sensores de movimento, mais tecnologia antipânico e novos guardas noturnos particulares.
No primeiro longa-metragem de Kléber Mendonça Filho, o bairro de Setúbal é o protagonista. Cresceu rápido, vertical e paranoico. Foi habitado pela típica classe média alta conservadora e por uma aristocracia rural que se reinventou na cidade. Francisco é o proprietário de quase todos os imóveis de alto padrão da região. Melhor dizendo: senhor Francisco. Ele é também proprietário de um engenho decadente no interior, onde passa a maior parte do tempo. Seu neto, João, trabalha como corretor dos apartamentos do avô, odeia o que faz e está empolgado por causa do novo romance com Sofia, que também já morou no bairro. Maria, a empregada doméstica que serve a casa de João, viu o menino nascer. Ele é gentil, íntimo e preocupado. Brinca com as netas da empregada, é cuidadoso com a filha, também empregada, que às vezes vai substituir a mãe. É como se fossem “da família”. A pobreza, como a riqueza, também é hereditária. João é decididamente cordial. Aliás, é um exemplar do “homem cordial” de Sérgio Buarque de Holanda no século XXI, que trata as relações de exploração por meio do afeto. Ele é o eixo do filme, nos conduz pelas cenas e nos apresenta o bairro e seus ruídos.
A chegada de uma equipe de três guardas noturnos, contratados para proteger a rua entre 7 da noite e 7 da manhã, é o mote da história. Clodoaldo, o chefe dos guardas, é misterioso e sagaz. Sua simpatia oblíqua gera certa desconfiança. Conforme o tempo passa, cresce a sensação de que algo terrível está prestes a acontecer. O outro neto do senhor Francisco é Dinho, que apesar da farta herança é um ladrão de toca-discos de carros. Seu Francisco já havia alertado: o neto era problema familiar, nada de Clodoaldo se meter. Mas, após um telefonema suspeito, Dinho se indispõe com os guardas e os ameaça com a eficaz postura de “filho do dono”, tão típica da cultura escravista, do sentimento hereditário de patronagem. A tensão cresce. Os tambores surdos e intercalados por largos silêncios aprofundam a atmosfera de mistério. É o som ao redor, africano, aquele que não ousamos escutar.
Em uma das poucas casas restantes no bairro mora Bia, com o marido e dois filhos. Aparentam ser o núcleo mais modesto da rua – ou melhor, o menos aristocrático, já que aulas de chinês particular para crianças é um luxo nada corriqueiro. Atormentada pelos latidos noturnos do cachorro do vizinho, Bia estende sua insônia madrugada adentro, entre um e outro baseado comprado do vendedor de água. Através da noite, observa as pegadas furtivas de um vulto em cima do telhado da frente. Enquanto isso, sua filha sonha com uma multidão de ladrões que invade o quintal. Acorda assustada.
A relação entre patrões e empregados está sempre em evidência, dos esporros às gentilezas. Na reunião de condomínio do edifício onde vive João, a maioria defende a demissão, por justa causa, do porteiro sonolento que trabalha para eles há quase vinte anos. A atitude é do tipo “cansei”: “Cansei de ver a minha Vejachegar sem plástico em casa, é revoltante”, afirma uma moradora. O filho pequeno de um condômino gravou um vídeo do porteiro dormindo em serviço. “Só pode ser provocação”, dizem. João defende a permanência do empregado e fica isolado. Os demais alegam que seria muito caro pagar os direitos. Antes da votação, ele prefere sair para encontrar-se com Sofia. A cordialidade de João é ingênua. Trata os empregados que o rodeiam com carinho e, diante de uma injustiça, desabafa meia dúzia de palavras rudes e se retira.
Quando João e Sofia decidem visitar seu Francisco no engenho, encontram um cenário de ruínas do antigo complexo açucareiro: um cinema antigo, máquinas invadidas pelo mato, a casa-grande, a senzala e os passos do andar de cima. Revisitam o passado imperial. E no meio de um refrescante banho de cachoeira compartilhado pelos três, embaixo de uma densa massa de água que cai pesada e gélida sobre seus ombros, vem a cena-chave do filme: num piscar de olhos, a água se transforma em sangue, vermelho vívido. São poucos fotogramas. João é encharcado pelo sangue que construiu a riqueza do avô. É uma pista para explicar a violência latente da vida contemporânea. O escravismo está entre o passado e o futuro.
Essa cena faz emergir, em frações de segundo, a história subterrânea que sustenta a história visível. É a mensagem forte do filme. Que o clima de medo, de catástrofe iminente, de terrível ameaça, não precisou de uma gota de sangue para se expandir. Precisou de uma cachoeira. Sobre os jovens ombros de João, pesa o passado de seu avô, com seus capatazes e latifúndios. A chave explicativa da violência contemporânea não seria nem a maldade nem o imediatismo. Seria sim uma violência histórica e estrutural, que permeia o cotidiano brasileiro e já está completamente naturalizada. A paranoia securitária que vivemos é diretamente proporcional à incompreensão das elites nacionais sobre as raízes históricas da violência. Mais que isso: a incapacidade crônica dessas elites de enxergar a reprodução da cultura escravista através dos séculos e as manifestações novas por ela assumidas no presente.
Não façamos tábula rasa da história. O escravismo brasileiro como sistema econômico acabou há mais de um século. Mas o som ao redor não deixa dúvidas: o escravismo como fenômeno cultural está vivo, renovado pelos hábitos modernos das elites brasileiras. O racismo é disfarçado. Que as empregadas domésticas sejam, no filme, como na realidade, predominantemente negras, não deve ser coincidência. O comportamento autoritário-patronal se expande para muito além da casa-grande. A cordialidade, face fundamental da exploração social, também se sofisticou. Permite que sejamos cada vez mais flexíveis no ato da violência cotidiana. Permite que nossa cultura escravista se adapte às aparências do politicamente correto. Que o intimismo alivie a culpa inconsciente dos herdeiros da aristocracia, dos novos senhores de engenho das cidades.
Mas, afinal, quem é responsável pela cachoeira de sangue? Provavelmente, quem tem medo da vingança.
Joana Salém Vasconcelos
Formada em História na USP e faz mestrado em Desenvolvimento Econômico na Unicamp
Ilustração: Divulgação
-

A escrita como arma revolucionária
O livro O estilo literário de Marx, do venezuelano Ludovico Silva (São Paulo: Expressão Popular, 2012), traz uma série de análises importantes para o conhecimento de elementos até hoje pouco explorados a respeito do autor de O Capital. O traço marcante do estudo está no fato de que Silva toma Marx não apenas como teórico, mas como escritor, isto é, como sujeito que imprime qualidades literárias – artísticas, estéticas – no material escrito que produz, seja ele de caráter filosófico, político ou científico-social.
Em Marx, a palavra escrita não serve apenas para apresentar conceitos, mas, também, fundamentalmente, para provocar efeitos sobre a sensibilidade daqueles que recebem suas mensagens: quer causar espanto, estranheza, comoção, cólera, revolta, excitação. Numa palavra: quer mobilizar e canalizar as energias sensíveis da coletividade oprimida para o projeto da transformação revolucionária do mundo. É por esse motivo que, segundo Silva, o sistema científico do pensador alemão está apoiado, de forma consciente, sobre um rigoroso e muito refinado sistema expressivo.

Tal sistema toma corpo através de um peculiar e inconfundível estilo literário. Silva explica o que isso quer dizer: “Literário porque, assim como a poesia abarca um espaço que vai mais além dos versos e se estende na prática a muitos tipos de linguagem, do mesmo modo a literatura, como tal, como conceito e como prática, ultrapassa as obras de ficção ou imagética e se estende por todo o largo campo da escritura. Ademais, o sistema expressivo de Marx constitui um estilo, um gênio expressivo peculiar, intransferível, com seus módulos verbais característicos, suas constantes analógicas e metafóricas, seu vocabulário, sua economia e seu ritmo prosódico. Um gênio posto intencionalmente a serviço de uma vontade de expressão que não se contenta com a boa consciência de utilizar os termos cientificamente corretos, mas que a acompanha com a consciência literária empenhada em que o correto seja, ainda, expressivo e harmônico, e disposta a conseguir, mediante todos os recursos da linguagem, que a construção lógica da ciência seja, também, a arquitetônica da ciência” (p. 11).
Para corroborar essa tese, Silva sublinha um elemento da formação intelectual de Marx comumente esquecido por muitos de seus seguidores: sua origem no campo das letras. Antes de se tornar experimentado teórico da sociedade capitalista, o pensador alemão dedicou-se de corpo e alma à literatura: estudou línguas clássicas, pesquisou temas estéticos, realizou traduções, escreveu poemas, epigramas, narrativas e até as primeiras cenas de um drama em verso. Não realizou grandes façanhas nesses domínios, é certo, mas soube converter seus fracassos em fonte de criatividade e de vigor expressivo.
O estudo das línguas mortas, o latim e o grego, por exemplo, serviu para dar-lhe uma profunda consciência da essência de alguns dos idiomas vivos pelos quais se expressava: sua constituição íntima, suas possibilidades criadoras, seus recursos composicionais etc. Também foi importante para despertar no filósofo o gosto pela perfeição expressiva na forma escrita, pela “impetuosidade das frases”, como afirma Silva.
A poesia, por sua vez, ajudou-lhe a aprimorar sua prosa, visto que o exercício do verso “obriga ao aprofundamento nas qualidades plásticas e rítmicas do próprio idioma, na prosódia mesma” (p. 29). Nesse contexto, é interessante lembrar a afirmação feita pelo linguista e crítico russo Mikhail Bakhtin de que “é só na poesia que a língua revela todas as suas possibilidades. Ali as exigências que lhe são feitas são as maiores. Todos os seus aspectos são intensificados ao extremo, alcançam seus limites. É como se a poesia espremesse todos os sucos da língua que aqui se supera a si mesma” (1). Se levarmos em consideração esse fato, teremos uma boa ideia do que os exercícios literários foram capazes de proporcionar ao estilo de composição textual de Marx.
É dessa formação intelectual sui generis que vêm os elementos característicos de sua prosa, que Silva, em seu livro, se dedica a enumerar: a arquitetônica da ciência, adialética da expressão, a grande criatividade metafórica, os espíritos concreto, polêmicoe irônico de seus escritos, tão necessários para a denúncia e o combate da realidade alienada e alienante do sistema do capital. Daí os peculiaríssimos efeitos que o estilo literário de Marx causa na sensibilidade de seus leitores: a sensação do sangue fervendo nas veias ao se ler as inflamadas páginas do Manifesto Comunista, a impressão do estranhamento que se desprende das memoráveis passagens dos Manuscritos econômico-filosóficos, a indignação e a revolta que brotam das magníficas sentenças que perpassam todo o sistema categorial de O Capital são alguns exemplos do poder evocativo dessa prosa vigorosa e inspirada.
O resultado disso, certamente, é prenhe de consequências políticas. Porque a qualidade estética de um texto, o elemento artístico intrínseco a ele, ao tocar o leitor, provoca uma espécie de curto-circuito em suas vias perceptivas, subverte momentaneamente sua forma ordinária de experimentar o mundo e traz à luz novas maneiras de apreender o real que podem servir de combustível e faísca para futuras ações transformadoras.
A arte, justamente, amplia para o sujeito a capacidade de sentir coisas novas. Sobre isso, escreveu o filósofo brasileiro Leandro Konder: “se não ampliamos o campo daquilo que sentimos (ou que podemos sentir), nossa capacidade intelectual fica prejudicada, nossa racionalidade se deforma. Ou o sensível e o racional se apoiam mutuamente ou ambos sofrem prejuízos” (2). Ou seja, tanto quanto o pensamento, a sensibilidade coletiva deve ser tocada se se quer auxiliar as lutas dos trabalhadores pela emancipação humana.
Marx sabia disso. Tanto que seus livros não visam apenas transmitir o conhecimento resultante de suas incansáveis pesquisas. Querem, também, transformar algo muito sutil existente no interior de seu público leitor: a apatia em tensão crítica, a resignação em ímpeto fervilhante, a passividade em vontade de movimento. Por certo, esta é uma tarefa tão importante quanto a veiculação de conceitos úteis para o combate e a superação da sociedade do capital.
Aqui vale lembrar o psicólogo soviético L. S. Vigotski, que acreditava que a arte exerce uma influência especial sobre a vontade e as paixões. Não para mobilizá-las, de pronto, para a ação, mas para produzir um estado de espírito que tenda para a ação futura. A reação artística é, desse modo, algo predominantemente adiado, “porque entre a sua execução e o seu efeito sempre existe um intervalo demorado”. Conforme assinala o célebre autor: “a arte introduz a ação da paixão, rompe o equilíbrio interno, modifica a vontade em um sentido novo, formula para a mente e revive para o sentimento aquelas emoções, paixões e vícios que sem ela teriam permanecido em estado indefinido e imóvel. (…) A arte é antes uma organização do nosso comportamento visando ao futuro, uma orientação para o futuro, uma exigência que talvez nunca venha a concretizar-se, mas que nos leva a aspirar acima da nossa vida o que está por trás dela” (3).
O elemento estético pertencente a uma determinada elaboração textual ajuda, assim, o leitor a desidentificar-se com o seu mundo ordinário e a identificar-se com algo até então insólito. Abre para ele a possibilidade de se descentrar de sua individualidade e se sentir parte do gênero humano. A criatura solitária, acabrunhada, tímida e hesitante pode ser levada a sentir o que os gigantes são capazes de sentir. Desnecessário dizer o quanto isso tudo é fundamental para um projeto político alternativo de regulação da vida em sociedade.
A tradução da obra de Ludovico Silva, que agora temos em mãos, é bem-vinda por permitir aos leitores brasileiros aprenderem a forma como Marx procurava fazer uso constante dessa premissa.
Notas:
(1) BAKHTIN, M. O problema do conteúdo, do material e da forma na criação literária. Em: Questões de Literatura e de Estética: a teoria do romance. São Paulo: Ed. Hucitec/UNESP, 1993, p.48.
(2) KONDER, Leandro. As artes da palavra: elementos para uma poética marxista. São Paulo: Boitempo, 2005, p. 16.
(3) VIGOTSKI, L. S. Psicologia da arte. São Paulo: Martins Fontes, 1998 p. 315-20, grifo nosso.
Ficha
Título: O estilo literário de Marx
Autor: Ludovico Silva
Tradutor: José Paulo Netto
Editora: Expressão Popular
Ano: 2012
Páginas: 110
Preço: R$ 15,00
O autor: Ludovico Silva (Luis José Silva Michelena) nasceu em 1937 e faleceu em 1988, na cidade de Caracas, Venezuela. Foi escritor, filósofo, ensaísta e poeta. É considerado um dos mais importantes intelectuais venezuelanos do século XX. Sobre ele, escreveu seu tradutor brasileiro José Paulo Netto: “Ele está, para a cultura da esquerda na Venezuela nos anos 1960/1970, como Mariátegui esteve para a peruana nos anos 1920”.
Demetrio Cherobini é doutorando em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina
Fonte: Correio da Cidadania

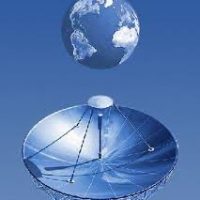
 O sociólogo Sérgio Amadeu da Silveira tem sido um dos especialistas mais acionados para ajudar a explicar a força das redes sociais na articulação das recentes formas de manifestação política no Brasil e no mundo. Amadeu, além de expert em sua área, em que combina a ciência política e a tecnologia da informação, é antes de tudo um ativista da democracia. No governo de Marta Suplicy na prefeitura de São Paulo, trabalhou pela implementação de mais de uma centena de telecentros, até então uma das mais inovadoras políticas públicas de inclusão digital.
O sociólogo Sérgio Amadeu da Silveira tem sido um dos especialistas mais acionados para ajudar a explicar a força das redes sociais na articulação das recentes formas de manifestação política no Brasil e no mundo. Amadeu, além de expert em sua área, em que combina a ciência política e a tecnologia da informação, é antes de tudo um ativista da democracia. No governo de Marta Suplicy na prefeitura de São Paulo, trabalhou pela implementação de mais de uma centena de telecentros, até então uma das mais inovadoras políticas públicas de inclusão digital.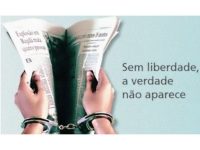
 A Justiça em Sergipe acaba de condenar o jornalista José Cristian Góes a sete meses e 16 dias de detenção. O crime cometido por ele: ter escrito uma crônica ficcional sobre o coronelismo.
A Justiça em Sergipe acaba de condenar o jornalista José Cristian Góes a sete meses e 16 dias de detenção. O crime cometido por ele: ter escrito uma crônica ficcional sobre o coronelismo.

