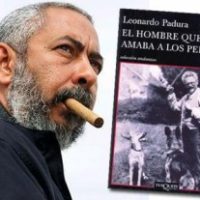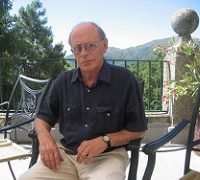Seu romance sobre Trotsky e seu assassino causou impacto em nosso país. O escritor cubano fala no sábado na Feira.

A última vez que Leonardo Padura esteve na Argentina foi em 1994. Ainda fazia barulho a queda da URSS, o “período especial” começava em Cuba e aqui nos ensinavam que um peso era igual a um dólar. O cubano apenas publicara as primeiras histórias de seu detetive Mario Conde em Havana e passeava por esta Feira como um perfeito desconhecido. “Eu era outro escritor” diz agora, nesta entrevista a Clarín. Grande parte desse salto para a fama, ele o deve a El hombre que amaba a los perros [O homem que amava os cachorros]. Publicou esse livro em 2009 e desde então não para de ganhar leitores e prêmios, em Cuba e na França, no México e na Espanha. Mas aqui ocorreu algo curioso: a difusão dessa obra se fez boca a boca. Assim, Padura – que veio ao país convidado pela revista Nueva Sociedad – é hoje o autor mais vendido de Tusquets nesta Feira, superando Milan Kundera, Henning Mankell e o próprio Haruki Murakami. O cubano engoliu o japonês, o sueco e o checo também.
Em seu livro mais celebrado, Padura desanda os caminhos do assassinato de Trotsky. Indaga sobre este fato crucial para o Século XX, através da vítima e de seu vitimário, Ramón Mercader. Faz isso a partir de uma perspectiva cubana, a sua, a de um autor que sempre viveu em Havana. Mas é um livro universal. “Levei cinco anos escrevendo-o, com uma busca documental intensa e extensa. De Trotsky havia abundante informação, de Mercader quase nada”, recorda. Por que elegeu contar esta história? Padura diz que aí pode haver algo de nostálgico, mas também do resentimento que lhe causou encontrar os culpados. “De pronto entendi algumas das razões pelas quais se perverteu a utopia. O papel do stalinismo, a herança de sua figura, foi algo terrível”, diz e o assume na própria carne. Está falando de uma revolução traída, quando conta a morte de Trotsky.
Para dinamizar a história, Padura inventou o escritor Iván Cárdenas Maturell, que em 1977 conhece um tal López, uma enigmática personagem que passeia pela praia dos formosos galgos russos, um homem disposto a lhe confiar os detalhes mais profundos da vida de Ramón Mercader, o verdugo de Trotsky. Trotsky tem cachorros, Mercader os tem, também Iván.
– Que são os cachorros, Padura?
– Recursos que utilizo para ir além das perspectivas históricas e encontrar elementos de permanência.
Diz isso. E fala de outros dois romances seus, um anterior, no qual a personagem é o poeta José María Heredia, e de Herejes, seu novo trabalho, que dará à luz em setembro e que está enfocado em Rembrandt, o pintor. “Me identifiquei com Heredia quando descobri que ele gostava de um prato cubano que eu também gosto: a sopa de quimbombó . No caso de Rembrandt, me aproximou dele o fato de que padecera dores de dente, de que quase não tivesse dentadura porque gostava de comer caramelos na Holanda”. Cães, guisados, dor de dente. Assim Padura se mete nas personagens. Assim e com muita investigação bibliográfica.
Enquanto investigava para El hombre que amaba… [O homem que amava…], o cubano ia acumulando bronca. “Encontrei um documento que me comoveu. Um editorial de um jornal mexicano comunista dos anos 30, stalinista claro, celebrava a morte de Sandino. Dizia que morrera como um pequeno burguês e sozinho como um cão, porque a visão de Sandino violava os códigos que se queriam impor através da Terceira Internacional. Quando vi essa mesquinharia comecei a me preocupar por essas histórias perversas”.
Essa perversão, essa cegueira a reflete Mercader na história. Uma cegueira que arrasou figuras como Andreu Nin, o trotskista espanhol que dirigiu o POUM, e os mesmíssimos filhos de Trotsky, entre tantos outros. Através de Iván, o escritor cubano que dirige a história, Padura busca explicar Mercader, ao mesmo tempo que vai se aproximando da figura de Trotsky, cuja magnitude o envolve e cativa de vez. Liev Davídovich Bronstein, Trotsky.
Padura sustenta que um dos problemas da literatura cubana é a sua falta de universalidade. Essa é sua grande preocupação, algo que aprendeu com Alejo Carpentier, que por sua vez o aprendera com Miguel de Unamuno. Celebra que a literatura tenha hoje um espaço maior do que o da imprensa em Cuba. Mas sofre pela falta de difusão.
– Quando alguém no ano 2040 ler um de meus romances e ler um jornal Granma vai pensar que se trata de dois países diferentes. E creio que o meu país é mais parecido com a realidade do que o do jornal.
E acrescenta que esse é um problema que o próprio governo cubano critica. “Conheço pouco o fenômeno dos blogs, mas nele há um embrião de um jornalismo diferente”, sugere. E diz que sua independência como escritor quiçá radique em que nunca militou na Juventude Comunista. “Eles não me quiseram ”, esclarece, e diz que se passou muito tempo até que notasse a importância desse fato. Hoje, Padura tem melhores condições de vida que a maioria de seus compatriotas. E celebra algumas das mudanças que se estão produzindo na ilha, ainda que se lhe mude a expressão quando conta que está encerrado em trâmites burocráticos para comprar um carro: “Não fazem ideia”.
– Há dois Padura, um autor de policiais e outro que faz um trabalho mais documental e jornalístico?
– Não. Minha obra tem uma preocupação fundamental, a busca das orígens. Nos policiais há uma busca, a da verdade. E em romances como El hombre… [Ohomem…] também utilizei certas estruturas do romance policial para marcar mais essa busca duma verdade que pode ser filosófica, histórica ou política.
– Conde, o detetive de seus policiais, e Iván, o escritor que desenrola a história de Mercader, têm pontos comuns então…
– Conde é a expressão de minha geração, uma figura metafórica. Iván é uma personagem simbólica à qual se lhe agregaram elementos que o superam como individuo. Tem uma vida tão cheia de frustrações e contradições que transpassa o verossímil. Eu precisava desse ajuste para que essa única personagem significasse o que pode haver sido a frustração de um pensamento, de uma vocação dos ideais de uma pessoa em Cuba.
– Iván, ou Padura, sente compaixão por Mercader?
– Sente-se tentado à compaixão. E é possível que a sinta, mas não estou seguro. Esse foi um matiz que discutí muito comigo mesmo e com os amigos que sempre leem meus livros. No fundo, Mercader também foi uma vítima, mas foi um homem que obedeceu e nessa obediência chegou à perversão ética mais elementar. Não lhe serviu de nada, porque o destinaram ao ostracismo, primeiro em Moscou e logo em Cuba, vivendo sob outra identidade. Quiçá isso promova a compaixão, mas não tenho a resposta ainda.
– Me permito uma crítica: os espiões russos, a NKVD, parecem tirados de um filme de Hollywood.
– O espiões são parecidos em todo o mundo. É um trabalho sujo, no qual você tem que mentir, usar os outros, essa essência é comum. Mas não nego que possa haver uma influência de John LeCarré. Seus espiões, homens infelizes e incompletos, me fascinam.
– Houve um Trotsky na revolução cubana?
– Não creio. A culpa da virada política de Cuba, para muitos, foi da política norteamericana. Naqueles anos, os Estados Unidos estavam acostumados a governar a América Latina duma maneira e a revolução rompeu os esquemas. Nessa época, o Che Guevara começa a fazer, a partir de seus cargos de poder, determinadas leituras e declarações que, vistas em perspectiva, resultam antissoviéticas. Se houve um assomo de Trotsky em Cuba, esse foi o argentino. Se conta que o Che teve uma relação muito próxima com o grupo de trotskistas cubanos originários. No principio da revolução, o projeto socialista do governo cubano não estaba definido. Mas ali havia, sim, um grupo de revolucionários trotskista, com os quais o Che se relacionava. Houve um momento em que o Che saiu de Cuba e, quando regressou, havíam afastado de seus postos muitos desses trotskistas. E, graças ao Che, muitos recuperaram seus postos. Isto quer dizer que havia um conhecimento e uma simpatia com o pensamento trotskista.
– Havana, Cuba, é um ímã para o mundo. É vantajoso escrever a partir de lá?
– Sempre a cultura cubana foi maior do que a geografía da ilha. Escrever desde Havana dá certa vantagem. Como Buenos Aires, tem uma tradição cultural reconhecida.
– O que resgataria de sua experiência para o futuro da vida socialista?
– Há uma experiência que considero fundamental. É a de poder realizar a liberdade individual. O indivíduo que não pode exercitar sua própria liberdade não pode construir uma sociedade livre. É preciso resolver os problemas individuais para logo resolver os coletivos. Um dos problemas do socialismo é que se fez ao revés. Se você diz a um crente que ele tem que deixar de crêr, para essa pessoa, este mundo já não é o melhor.
Fonte: Clarin, 08/05/13
Tradução: Sergio Granja
Participação extraordinária na Feira do Livro de Buenos Aires
Buenos Aires, 14 mai. (Prensa Latina) – A Feira Internacional do Livro de Buenos Aires atraiu um 1,12 milhão de pessoas, que foram a seus pavilhões no recinto La Rural, informaram seus organizadores no encerramento deste megaevento.
A edição 39 desta Feira, a maior de seu tipo no mundo hispânico, foi encerrada ontem à noite com chave de ouro, apresentando uma programação variada no bairro Palermo, no centro. Hoje circulam estatísticas admiráveis sobre seu desenvolvimento.
De acordo com os organizadores, reunidos pela Fundação El Libro, participaram ao redor de 1.600 delegações de escolas, assistiram delegações de 20 países e de 18 províncias argentinas.
Nos 45 mil metros quadrados que ocupou, foram abertos espaços dedicados aos leitores, crianças e jovens, profissionais, educadores, editores, livreiros e público curioso em geral.
Contou com 460 expositores distribuídos em sete pavilhões e cerca de mil atividades culturais foram realizados em 10 salas.
Além disso, 450 mil internautas visitaram o recinto da Feira, que contou adicionalmente com 90 mil amigos no Facebook e 20 mil seguidores no Twitter, divulgaram nesta terça-feira os responsáveis pelo departamento digital.
Aproximadamente 500 autores participaram do megaevento, destacando-se entre eles o representante da Teologia da Libertação, Leonardo Boff.
Também estiveram outros como Florencia Bonelli, Claudio María Domínguez, Nik, Arturo Pérez-Reverte, Verónica de Andrés, Florencia Andrés, John Katzenbach, Silvia Freire, Gabriel Rolón e Felipe Pigna.
Participaram ainda María Isabel Sánchez, Javier Cerca, Marcos Aguinis, Claudia Gray, Rosa Montero, Luis Pescetti e Leonardo Padura, entre outros.
Por iniciativa do Coletivo Imaginário, da Rede Solidária e da Fundação El Libro – e graças à colaboração do público – foram doados 29 mil livros novos e usados que serão distribuídos a seis bibliotecas, dois jardins de infância, dois colégios primários e um secundário de La Plata.
Isso tudo apesar dessa cidade ter sido severamente prejudicada por uma tempestade sem precedentes no começo de abril que provocou inundações avassaladoras.