 O Brasil continua paralisado em meio à briga de clãs que disputam o poder central. Um show de retóricas, seja à esquerda ou à direita do espectro político, na defesa de pontos de vista cujas grandes diferenças jamais ficam claras. A questão do petróleo e em especial do Pré-Sal não escapa à lógica, mas será que os projetos governistas e oposicionistas sobre sua exploração econômica são tão diferentes? Foi sobre isso que conversamos com o cientista político e consultor em economia Pergentino Mendes de Almeida.
O Brasil continua paralisado em meio à briga de clãs que disputam o poder central. Um show de retóricas, seja à esquerda ou à direita do espectro político, na defesa de pontos de vista cujas grandes diferenças jamais ficam claras. A questão do petróleo e em especial do Pré-Sal não escapa à lógica, mas será que os projetos governistas e oposicionistas sobre sua exploração econômica são tão diferentes? Foi sobre isso que conversamos com o cientista político e consultor em economia Pergentino Mendes de Almeida.
“Tivemos uma janela de, teoricamente, usar o Pré-Sal para alavancar (desculpem o palavrão!) este país e lançá-lo para uma posição firme, independente, com indústria própria, agricultura robusta e diminuição da desigualdade social. Teria de ter sido um empreendimento iniciado rapidamente, com união nacional, entusiasmo e exaltação da confiança pública no país. Não foi”, criticou Pergentino. Mediante as atuais circunstâncias do país e também da Petrobras, o consultor considera apropriado o PLS 131 do senador tucano José Serra, que basicamente significa acelerar a venda do petróleo, mesmo em meio à baixa de seu preço.
A seguir, o entrevistado deixa claro que considera o gerenciamento dessa riqueza uma repetição da lógica colonial, a exemplo da era açucareira do Nordeste, e que no fim das contas tudo dependerá de como se resolverão as contendas do momento. “Precisamos desenvolver a tecnologia adequada, e isso a Petrobrás pode fazer: ela tem engenheiros competentes e capazes. Mas aí entra a política. Onde está o dinheiro? E mais: seria possível desenvolver tecnologias inovadoras num ramo isolado como o petróleo, sem uma política industrial e megaeconômica, diversificada, de longo prazo? Corremos o risco, se fôssemos nos basear na economia do petróleo e do Pré-Sal apenas, de termos de pagar para produzir e exportar petróleo”.
Pergentino considera ainda ilusória a promessa de financiamento da educação a partir da renda do pré-sal. “As coisas ficam mais bonitinhas de se olhar, mas o contingenciamento de verbas e a margem para pagamento dos juros aos bancos e para a manutenção das nossas reservas cambiais são esquecidos. E é precisamente aí que estão as prioridades escolhidas pelo governo brasileiro. Ou melhor, pela banca internacional, já que são eles que mandam aqui. O Brasil vem depois, colhe as sobras, que sempre são poucas para as necessidades. O dinheiro do Pré-Sal, se houvesse, vai sumir nesse sorvedouro. A prioridade são os juros bancários. Afinal, isto é o Capitalismo Financeiro”.
A entrevista completa com Pergentino Mendes de Almeida pode ser lida a seguir.
Correio da Cidadania: Em primeiro lugar, como enxerga a aprovação no Senado do PLS 131, de iniciativa de José Serra, que visa desobrigar a participação de ao menos 30% da Petrobrás em todos os consórcios de blocos do Pré-Sal?
Pergentino Mendes de Almeida: Se é para se explorarem as reservas do Pré-Sal, a justificativa apresentada pelo Senador José Serra ao seu PLS 131 parece-me oportuna. Por que deixar essa riqueza enterrada? Não faz sentido, o Capital vai nos asfixiar em CO2 se puder. O PL 131 é a última chance de conseguir alguma vantagem para o Brasil. Quero deixar claro logo de início que tenho pontos de vistas mais ou menos divergentes dos que norteiam o centro, a direita e a nossa pseudo-esquerda, populista e fascistóide. Para simplificar: a pergunta é de simples resposta, se vale a pena aproveitar recursos que temos (claro que sim!), mas a resposta contém detalhes onde reside o diabo.
Tivemos uma janela de, teoricamente, usar o Pré-Sal para alavancar (desculpem o palavrão!) este país e lançá-lo para uma posição firme, independente, com indústria própria, agricultura robusta e diminuição da desigualdade social. Teria de ter sido um empreendimento iniciado rapidamente, com união nacional, entusiasmo e exaltação da confiança pública no país. Não foi. O resto do mundo está trabalhando para a implantação inevitável de tecnologias alternativas mais sofisticadas, a fim de reduzir as emissões de CO2, com a inevitável e paulatina perda da importância do petróleo. Agora está ficando tarde, temo.
É hora de recuperarmos a Economia e a Petrobras para que esta tenha capacidade de atuar com eficácia. O problema é que eles podem ir adiante, antes de resolvermos os problemas legais da regulamentação do Pré-Sal e de recebermos as sondas e plataformas encomendadas e por encomendar. No mundo todo, para todos os países, os atrasos na entrega desses equipamentos são normais, de cinco a oito anos, às vezes mais de dez anos. O pré-sal, conforme as previsões iniciais, poderia constituir uma alavancagem para o desenvolvimento nacional e as finanças públicas. Mas a coisas me parecem mais complicadas do que vemos, hoje, a partir de nossa perspectiva míope.
A era do petróleo atingiu seu pico. De hoje em diante, a longo prazo, tende a decair. Quando jovem, participei da campanha “O Petróleo é nosso”. Isso quer dizer monopólio da Petrobrás. Getúlio Vargas foi suicidado por causa disso e da Vale do Rio Doce. O que aconteceu desde então, em que pé estamos depois de vários mandatos de um partido que se diz de esquerda, mas que não passa de um populista a serviço da banca? A Petrobrás está arruinada. A Vale só deu lucro depois de entregue à iniciativa privada e o governo contribuiu para isso. O resgate do Pré-Sal exige mais dinheiro do que tem a Petrobrás e uma política macroeconômica mais bem azeitada, a longo prazo. A Petrobrás está arruinada. Ela publica que está “vendendo ativos para poder investir”. Para mim, isso quer dizer que ela está desinvestindo, em vez de investir.
Mas o tema tem sido tratado de uma maneira tão ufanista que me faz duvidar do muito que se disse a respeito. A questão virou um tema político, no sentido mais rasteiro do termo, e isso me deixa meio cético com relação a todas as expectativas oficiais. O mais sensato diagnóstico a respeito, durante as discussões no Senado, enquanto os governadores e prefeitos se reuniam para pressionar a seu favor a distribuição e o adiantamento dos royalties, foi uma tirada do Lula: “a pescaria nem começou, mas a turma já tá brigando pelo pirão”.
Correio da Cidadania: O que pensa dos argumentos favoráveis ao projeto, levando em conta o atual momento de baixa internacional dos preços do petróleo?
Pergentino Mendes de Almeida: O mercado é volátil, ele sobe e desce. Parece que a coisa tende a ficar inviável para nós. Eis uma situação que me deixa confuso: já li, em fontes diversas, citações (rumores?), de que o preço mínimo do barril de petróleo para viabilizar o Pré-Sal seria de 80 dólares (quando estava a 120), ou 60, ou 40 dólares, como agora. O preço do barril no mercado atingiu a casa dos 30 dólares. É previsível que haverá períodos de baixa (prejuízo) e alta (lucros), mas onde fica o nosso ponto de equilíbrio?
Lembremo-nos de que estamos falando em águas profundas, mais profundas do que as empresas de petróleo estão habituadas a explorar, e a distâncias maiores da costa, maiores distâncias do que os poços do Caribe ou do Alaska, exemplos de catástrofes ambientais nas mãos de respeitabilíssimas megaempresas do ramo, Exxon e BP. Isso significa maiores custos, seguros muito mais caros, recursos provavelmente mais caros, em termos de equipamento e logística – e mais tempo.
Precisamos desenvolver a tecnologia adequada, e isso a Petrobrás pode fazer: ela tem engenheiros competentes e capazes. Mas aí entra a política. Onde está o dinheiro? E mais: seria possível desenvolver tecnologias inovadoras num ramo isolado como o petróleo, sem uma política industrial e megaeconômica, diversificada, de longo prazo, adequada ao crescimento harmônico de toda a economia? O que os governos do PT fizeram até agora foi distribuir recursos públicos para os pobres comerem, e isso pode ser louvável; porém, o mais importante seria estimular a produção e o investimento – ou seja, o emprego e a diversificação e fortalecimento de nossa economia. Comida você come e descarrega o que sobrou dela. Emprego é um pouco melhor. Pelo menos você conta com algum rendimento do mês seguinte, depois de gastar o salário deste mês.
O PT fez o contrário. Tornou o dólar atrativo para especular e comprar empresas nacionais, alienou nossa indústria e concedeu créditos e isenções fiscais aos bancos e à indústria automobilística, para facilitar a remessa de lucros destinados a aliviar os coitados dos países ricos, quando entraram em recessão. Estamos cada vez mais especializados em exportar commodities e destruir o meio ambiente. Enquanto isso, nossa indústria está se desmoronando. Caminhamos para a mesma situação do Brasil-Colônia, nos tempos da cana-de-açúcar do Nordeste.
Naquela época, os brasileiros (brancos lusos) eram o povo mais rico da Terra em termos de patrimônio per capita. Os escravos e índios eram parte de seu ativo, não eram gente. Corremos o risco, a longo prazo, se fôssemos nos basear na economia do petróleo e do Pré-Sal apenas, de termos de pagar para produzir e exportar petróleo. O que, aliás, já ocorre quando vendemos gasolina abaixo do preço do mercado e do barril de petróleo bruto. A doença venezuelo-holandesa já começou antes da pescaria.
Correio da Cidadania: E o que pensa dos argumentos que dizem se tratar de um crime contra o futuro do financiamento da educação, afirmando que se trata de uma perda de 25 bilhões de reais/ano?
Pergentino Mendes de Almeida: Considerando tudo o que eu disse antes, você pode imaginar a importância que atribuo à Educação. Dez vezes mais do que hoje atribuímos à superior, dez vezes o valor da superior para o médio e dez vezes mais para o ensino básico. É uma pirâmide de carências proporcional à pirâmide de distribuição de renda. Diz-se que o rendimento do Pré-Sal seria destinado à Educação. Isso não me comove. O sistema das finanças públicas tem por valor absoluto a ideia de que todo o dinheiro do Estado fica unificado no Tesouro, afinal, é tudo dinheiro do governo. Juntando tudo num só cofre, nas mãos dos nossos políticos, eles vão falar de superávit primário, não do nominal.
As coisas ficam mais bonitinhas de se olhar, mas o contingenciamento de verbas e a margem para pagamento dos juros aos bancos e para a manutenção das nossas reservas cambiais são esquecidos. E é precisamente aí, nos juros, nos interesses dos bancos e dos especuladores que estão as prioridades escolhidas pelo governo brasileiro. Ou melhor, pela banca internacional, já que são eles que mandam aqui. O Brasil vem depois, colhe as sobras, que sempre são poucas para as necessidades.
Por que cada parcela do orçamento, reservada para uma finalidade social considerada importante, não compõe um fundo específico que deve gerar dividendos e prestar contas, por exemplo, aos trabalhadores, no caso do FGTS, às escolas e professores nos fundos para Educação e assim por diante? Eu sei que estou falando besteira, não sou economista nem contador, portanto, tenho o direito de dizê-las. Mas mesmo que eu tivesse, ou tenha razão, os políticos e os tecnocratas rejeitariam a proposta. O dinheiro do Pré-Sal, se houvesse, vai sumir nesse sorvedouro. A prioridade são os juros bancários. Afinal, isto é o Capitalismo Financeiro.
Correio da Cidadania: A propósito, como enxerga a atual crise financeira da Petrobrás, permeada por casos de corrupção de grande monta em diversas diretorias e setores da empresa? Nesse sentido, a empresa teria perdido de fato a capacidade de exploração do petróleo, como, por exemplo, na própria camada do Pré-Sal, justificando um projeto como o do senador Serra?
Pergentino Mendes de Almeida: Catastrófica. Há século e meio um ditado do bom senso nunca foi desmentido: o primeiro melhor negócio do mundo é uma empresa de petróleo bem administrada; o segundo melhor negócio é uma empresa de petróleo mal administrada. Pois o PT conseguiu desmontar a nossa maior empresa e desmentir a sabedoria secular desse ditado. É uma proeza e tanto! É claro que, nesta altura dos acontecimentos, tanto faz. A situação até que justifica o PLS 131 do senador José Serra. A Petrobras precisa se recuperar e deixar de ser um peso morto na exploração do Pré-Sal, pois não tem substância financeira para arcar com 30% de todos os investimentos necessários.
Além disso, ela tem, a meu ver, outras prioridades a atender. Como é que ela se pode propor, na sua propaganda institucional, a ser uma empresa de energia, quando não tem alcance para salvar sequer o petróleo que já tem e as refinarias que já comprou? De quais energias estamos falando? Eu acredito no corpo técnico da Petrobras, mas não na sua administração.
Correio da Cidadania: Qual é a seu ver o sentido maior, hoje, de exploração do Pré-Sal, considerando a conjuntura atual nacional e também a internacional?
Pergentino Mendes de Almeida: É ganhar uns trocados ou uma pequena fortuna – se tudo correr bem. Mas já sabemos que nem tudo está correndo bem para nós aqui e para o mundo em geral. E nem uma pequena fortuna, com as atuais políticas, iria melhorar as condições sociais do povo brasileiro. Poderia valer a pena se tudo tivesse sido planejado a longo prazo, dentro de um pensamento holístico, e começado há uns dez anos. Agora passou a janela. Mais uma vez.
A Era do Petróleo e da produção abundante de CO2 para gerar energia chegou ao pico e tende a retrair-se. Não acho que a extração de petróleo vai acabar de vez, ele ainda será necessário para as indústrias de corantes, plásticos, cosméticos, perfumaria e medicamentos. Mas deverá ser suplantada por um conjunto de fontes alternativas de energia para transporte, iluminação, comunicações etc. Quem não ficou rico com o petróleo até agora não fica mais, principalmente com a complexidade e custos crescentes da tecnologia necessária. Uma coisa é certa e aceita, ainda que entre quatro paredes, pelas empresas exploradoras do petróleo: o futuro exige a redução de emissões de CO2 , custe o que custar. E ponto. O que elas podem fazer é ganhar um tempinho.
As grandes multinacionais do petróleo sabem disso e preparam-se para uma nova fase de geração de energia. A Shell, os Emirados, a Arábia Saudita investem pesado em pesquisa de fontes alternativas. Talvez a Shell seja a organização com resultados mais avançados – no nível experimental. Ok, suponha então que você é a Shell e dispõe do conhecimento e da tecnologia necessários para mudar tudo. Agora pense: por que lançar uma inovação tecnológica neste momento, solução que está pronta e segura na sua prateleira (onde entram as leis de patentes, a batalha crítica na ONU e OMC!), quando ela irá desmantelar todo o seu sistema altamente lucrativo, que funciona de modo eficiente há mais de um século? Por que desperdiçar a rede de distribuição, caminhões-tanque, torres de petróleo, tanques de armazenamento, gasodutos, contratos com distribuidores e fornecedores, valor da marca, além das relações com os produtores, que custaram guerras históricas e invasões para se consolidarem, enquanto todo esse aparato continua rendendo lucros?
Note, o investimento feito desde o século 19 pela Shell, Exxon, BP e todas as outras já foi amortizado há muitas décadas, agora é só usufruir. Nenhum investidor é suicida (isto é, do ponto de vista da economia capitalista) para abandonar o jogo enquanto está ganhando.
Ou seja, o Brasil não apenas deixou sua maior empresa ser engolida por interesses particulares, como ainda perde o bonde da inovação tecnológica em que a própria Petrobrás poderia ser líder.
Agora surgem ameaças de cantos inesperados, que não faziam parte do jogo. Carros sem motorista, movidos a energia elétrica: o Modelo Google já funciona em algumas cidades nos Estados Unidos. A Ford negocia um acordo com o Google para eventual produção em massa. A GM se adiantou e acabou de lançar um modelo inteiramente elétrico, possante e com autonomia de 300 km com uma só carga elétrica. A Toyota já vende o seu híbrido elétrico no mercado. A Nissan começou agora.
As novas gerações não estão mais dando o mesmo valor à posse de um reluzente carro como nós sempre demos. Por que não alugar um veículo elétrico apropriado à sua viagem, pagando só pelas horas de utilização, como você hoje faz com as bicicletas do Itaú? Na França e nos Estados Unidos (se não me engano, também no Japão) a experiência está em curso. E está dando certo.
Por falar em energia atômica, ninguém sabe que os Estados Unidos estão desenvolvendo usinas atômicas de IV Geração, capazes de superar em custos, benefícios, eficiência, facilidade de instalação, mobilidade (sim, mobilidade!) tudo o que chamamos hoje de usinas nucleares. De acordo com um depoimento do Departamento de Energia ao Senado norte-americano, o que se procura é criar um sistema tal que torne obsoletas todas as demais formas de obtenção de energia por meio de uma nova tecnologia nuclear avançada.
Essa nova tecnologia oferece a segurança que as atuais usinas não oferecem, são menores e fáceis de transportar e montar, e produzirão energia mais barata in loco. Mas serão de domínio norte-americano. O objetivo declarado nesse depoimento é transformar os Estados Unidos num monopólio mundial de energia. Isso introduz uma outra variável geopolítica importante: a esfera jurídica e a tendência à globalização, com poucas, enormes e diversificadas corporações ditando suas políticas internacionais em todas as áreas de atividade, na indústria, no comércio, nos serviços, nas políticas nacionais subordinadas a elas.
Daqui a vinte, trinta anos, o mundo não será o mesmo. Que fique claro: quase todas as alternativas de geração de energia mencionadas acima têm seus problemas, inclusive ambientais, mas estes são solucionáveis pela tecnologia. Juntas, darão conta do recado. Existe um potencial nelas que não é abertamente reconhecido. Alguns cientistas acreditam que a energia eólica, a solar e a das marés poderiam eventualmente satisfazer, conjuntamente, todas as necessidades globais de energia. Nem todos concordam, mas o ponto que quero salientar é que nesse campo existem mais coisas entre o céu e a terra do que as grandes corporações deixam entrever.
O ponto a salientar é que pouco provavelmente uma só delas venha a substituir o petróleo ou o gás natural, próximo protagonista de nossa história. O que podemos esperar é a adoção de um mix de tecnologias de produção de energia, do qual o petróleo ainda participará, em proporções decrescentes. A única “surpresa” que pode salvar o planeta em um cenário diferente é a invenção de uma tecnologia que permita controlar a fusão nuclear. Pode acontecer amanhã, na semana que vem ou daqui a dez anos, ou nunca. Mas existem investimentos não desprezíveis tentando descobrir a fonte praticamente infinita e limpa de energia.
Em qualquer caso, o problema de transmissão tornar-se-á numa questão estratégica de repercussões mundiais. Acho que aqui também deverá ocorrer uma verdadeira revolução tecnológica. Compondo esse problema logístico já existe um outro ainda pior. O volume de CO2 na atmosfera hoje já é suficiente para gerar enormes desafios e perigos futuros. Não há mais como evitá-los. Agora é tarde. Teremos de desenvolver sistemas viáveis de sequestro e captura de carbono do ar.
Correio da Cidadania: O que pensa, nesse sentido, dos argumentos mais radicados no ambientalismo, que condenam de lado a lado as fórmulas propostas para a extração do óleo?
Pergentino Mendes de Almeida: Não os conheço todos, mas não vejo como estancar, neste século, a extração de petróleo. Quero dizer, na prática.
Correio da Cidadania: E o que comenta sobre os argumentos de corte geopolítico que condenam o projeto?
Pergentino Mendes de Almeida: Também não os conheço bem. Não sei que alternativas são propostas. Mas qualquer alternativa deverá ser realista: vivemos no mundo da especulação do capitalismo financeiro, que é uma espécie de “socialismo” a favor do capital. Nenhum país rico, nenhuma economia evoluída na Europa, América, Ásia, foi capaz de desenvolver o seu sistema capitalista sem forte e constante apoio dos governos. Isso vale para todas as potências ditas liberais, inclusive os Estados Unidos. O que desejo salientar é que o problema é muito mais complexo sob todos os ângulos: geopolítico, econômico, financeiro, técnico etc. Não se pode buscar uma resposta simples.
Acredito que o problema reside exatamente aí: há uma falta de visão de conjunto a longo prazo, para beneficio de toda a sociedade e para a modernização, diversificação e ampliação de nossa indústria, que, infelizmente, está sendo sucateada e vendida ao capital estrangeiro. Não é à toa que nem se menciona mais o termo clássico da Economia, “Produto Nacional Bruto”; fala-se em “Produto Interno Bruto”. As vendas de Volkswagen no Brasil contam como nosso produto interno, mas são produto nacional da Alemanha. A Toyota do Brasil é um ativo do Japão, não do Brasil, e daí por diante.
Correio da Cidadania: Qual deveria ser, em sua visão, a relação do Brasil e seus governos com essa riqueza finita? Qual seria o modelo ideal de gestão do petróleo?
Pergentino Mendes de Almeida: Primeiro, quero dizer que não considero, na prática, o petróleo uma riqueza finita. Sempre que aumenta o preço do barril de petróleo, o volume das reservas mundiais certificadas aumenta também. Estão sempre um pouco acima da curva de consumo. O que vai limitar a indústria do petróleo é a necessidade de reduzir o volume de CO2 na atmosfera, além do fato de que as fontes alternativas de energia em desenvolvimento hoje podem ser mais eficientes do que o petróleo.
A vantagem do petróleo é que ele sempre foi barato; antes da crise dos anos 1970, da organização da OPEP, o preço do barril variava pouco acima de um dólar – o mesmo barril que hoje está perto dos 30 dólares e que deveria subir para 100 dólares a fim de compensar o Pré-Sal e várias outras fontes alternativas de energia. Por outro lado, considere que estamos falando numa economia fortemente sustentada. Mas estamos falando de uma economia sobre quatro rodas, com motor a explosão, movido a combustível fóssil. Isso é uma tecnologia relativamente rudimentar. Um motor a combustão interna com gasolina utiliza pouco mais de 10%, 15% da energia contida na gasolina queimada. O que significa que quase 80% do consumo de gasolina é um subproduto indesejável: calor (que precisa ser arrefecido no radiador) e poluição. No futuro isso deve mudar contra o petróleo, como aconteceu com as fontes de energia, ainda existentes, mas já superadas: a lenha e depois o carvão.
Quanto a um modelo ideal de gestão do petróleo, não podemos considerá-lo isoladamente de todo o resto que mencionei aqui. Temos de pensar a longo prazo. Um século é pouco para planejarmos e as incertezas são inúmeras. O Brasil deveria explorar todos os seus recursos para gerar uma economia autônoma e diversificada. Deveria usar tudo o que tem para incrementar a indústria de base, a indústria pesada, os portos, as estradas, os estaleiros, o saneamento, a criação de empregos úteis. E isso num tempo em que tudo é robotizado e a mão de obra participa cada vez menos do produto gerado.
Temos de gerar empregos e adotar métodos modernos de produção, o que parece contraditório. Alguns países conseguiram isso. Ou melhor, praticamente todos os países ditos desenvolvidos passaram por esse teste, mas só conseguiram superá-lo pela presença ativa do Estado. É o que chamo de “socialismo” a favor do Capital, principalmente o financeiro. Como fazê-lo de modo decente é o nosso problema. O Pré-Sal pode ajudar ou não (espero que sim).
Meu ideal seria o governo investir pesadamente na criação de polos de excelência onde ainda podem existir bolsões de oportunidade para atender as necessidades do futuro, que serão diferentes das da nossa história. Seria necessário concatenar e concentrar nossos recursos, esses sim, finitos demais, para investir no aproveitamento de oportunidades que arrastassem consigo os setores industrial, agrícola, comercial. Ainda que, a exemplo dos países liberais, tivéssemos de passar por um período protecionista – digamos, para que não me apedrejem, protecionista “contido”, racional, consentido e planejado. Mas não para beneficiar os amigos do Rei.
Correio da Cidadania: Considera que ao tentar acelerar a venda do petróleo o Brasil também perde no sentido de se preparar para promover e financiar outras formas de geração de energia, limpas e renováveis?
Pergentino Mendes de Almeida: Acho que sim, e essa é a arapuca em que costumamos sempre cair. Foi assim no tempo do Brasil-Colônia, com o açúcar; e depois o café e o algodão, até o Juscelino fatiar o que o Getúlio havia preparado, para entregar ao capital estrangeiro. Quem sabe é exatamente nessa área, a das energias limpas e renováveis, que reside uma dessas oportunidades de darmos um salto para a frente – que os norte-americanos chamariam de “leapfrog”. Temos de ser ambiciosos e acreditar, é necessária uma revolução cultural aqui, no bom sentido.
Tome a energia eólica. O Norte e o Nordeste do Brasil estão na faixa mundial das monções – ou seja, uma energia constante, inesgotável e infalível, enquanto o planeta girar. Podemos exportar energia para outros continentes, como se considera hoje um projeto de exploração da energia solar do Saara para o Norte da África e toda a bacia das nações mediterrâneas e centrais da Europa. E o Sol, que castiga o nosso sertão? E as possíveis oportunidades tecnológicas que podem ser criadas a partir daí?
Hoje exportamos doutores para as grandes universidades mundiais, que podem se dar ao luxo de escolher os melhores para retê-los, em benefício dos seus países. Depois nos vendem suas conquistas. E a Educação? E a Saúde? Os desafios são enormes, na proporção do nosso atraso, mas não custariam mais do que nos custam a inércia histórica, a burocracia, a dívida nacional subordinada ao Capital Financeiro e a corrupção, combinadas.
Correio da Cidadania: O que a aprovação do PLS 131 significa frente ao atual momento político, econômico, social e ambiental do país, de modo mais geral?
Pergentino Mendes de Almeida: Não sei. Depende do que se pode fazer com ele. Seria muito mais proveitoso, como sugeri acima, numa gestão eficiente a longo prazo, que tivesse atuado com agilidade há dez anos. Mas isso não aconteceu e não vejo qual a eficiência com que podemos contar dos nossos políticos e governo atuais. Se der uns trocados, como mencionei acima, nas mãos de quem ficariam e para quê? A bola de cristal agora precisa ser sintonizada na política, assim rasteira, e na Política, com P maiúsculo.
Fonte: Correio da Cidadania, quarta-feira, 30/03/2016

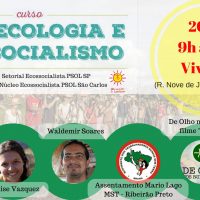


 O Brasil continua paralisado em meio à briga de clãs que disputam o poder central. Um show de retóricas, seja à esquerda ou à direita do espectro político, na defesa de pontos de vista cujas grandes diferenças jamais ficam claras. A questão do petróleo e em especial do Pré-Sal não escapa à lógica, mas será que os projetos governistas e oposicionistas sobre sua exploração econômica são tão diferentes? Foi sobre isso que conversamos com o cientista político e consultor em economia Pergentino Mendes de Almeida.
O Brasil continua paralisado em meio à briga de clãs que disputam o poder central. Um show de retóricas, seja à esquerda ou à direita do espectro político, na defesa de pontos de vista cujas grandes diferenças jamais ficam claras. A questão do petróleo e em especial do Pré-Sal não escapa à lógica, mas será que os projetos governistas e oposicionistas sobre sua exploração econômica são tão diferentes? Foi sobre isso que conversamos com o cientista político e consultor em economia Pergentino Mendes de Almeida.
 A indústria e a comercialização de armas volta a ser um dos negócios mais rentáveis e prometedores, depois de deixar atrás a leve queda de 2012, quando houve um retrocesso de 91% na despesa militar mundial.
A indústria e a comercialização de armas volta a ser um dos negócios mais rentáveis e prometedores, depois de deixar atrás a leve queda de 2012, quando houve um retrocesso de 91% na despesa militar mundial.



 Thomas Piketty (Clichy, 7 de maio de 1971) é um economista francês que se tornou figura de destaque no meio acadêmico internacional com seu livro “O Capital no século XXI” (2013), no qual defende, através da análise de dados estatísticos, que o capitalismo possui uma tendência inerente de concentração de riqueza nas mãos de poucos. Sua obra mostra que, nos países desenvolvidos, a taxa de acumulação de renda é maior do que as taxas de crescimento econômico. Segundo Piketty, tal tendência é uma ameaça à democracia e deve ser combatida através da taxação de fortunas.
Thomas Piketty (Clichy, 7 de maio de 1971) é um economista francês que se tornou figura de destaque no meio acadêmico internacional com seu livro “O Capital no século XXI” (2013), no qual defende, através da análise de dados estatísticos, que o capitalismo possui uma tendência inerente de concentração de riqueza nas mãos de poucos. Sua obra mostra que, nos países desenvolvidos, a taxa de acumulação de renda é maior do que as taxas de crescimento econômico. Segundo Piketty, tal tendência é uma ameaça à democracia e deve ser combatida através da taxação de fortunas.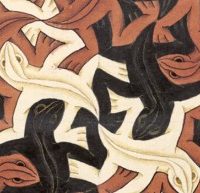



 Os paraísos fiscais, mais que notícias, é possível afirmar que sejam uma soma de números e nomes que refletem uma prática muito conhecida e frequente entre os milionários e as transnacionais.
Os paraísos fiscais, mais que notícias, é possível afirmar que sejam uma soma de números e nomes que refletem uma prática muito conhecida e frequente entre os milionários e as transnacionais.

