A esquerda em seu labirinto: considerações sobre o Brasil em crise
Neste ensaio, pretendo apresentar as movimentações dos setores dominantes de modo a fazer uma crítica da inação ou abstenção da esquerda socialista.
Por Frederico Henriques*
São inúmeros os impasses que a recessão econômica e da Covid-19 causam à humanidade. No Brasil, eles aparecem intensificados por termos um obscurantista na Presidência da República. As mensagens desencontradas e o enfrentamento às instituições do regime fazem com que a capacidade política de Bolsonaro seja a todo o momento questionada, provocando o seu isolamento. Esse clima piora com a deterioração exponencial do cenário econômico e o avançar do colapso sanitário, causados pelo coronavírus e pela saturação do sistema de saúde.
Mesmo nessa crise orgânica de grande proporção, quem mantém o protagonismo político em todos os momentos é Bolsonaro, com alguns enfrentamentos com a direita tradicional e os setores liberais da burguesia brasileira. A oposição de esquerda, observando a conflagração social e política ocasionada pelo governo, acredita que o povo irá resgatar seus políticos como salvadores nesse momento crítico. Na palavra de deputados petistas, o povo resgatará Lula dos escombros da economia e dos caixões.
Esse tipo de pensamento não é novidade na história. Em diversos momentos, a política da não intervenção nos processos históricos foi tentada e testada com retumbante fracasso. A partir de casos concretos, Gramsci viu essa experiência diversas vezes no caso italiano e em sua sanha antipassiva, de forma a criticar esse procedimento de maneira contundente. No trecho a seguir ele traduz sua visão:
Ocorreu frequentemente essa transposição para o campo político e parlamentar de concepções nascidas no terreno econômico e sindical. Todo abstencionismo político em geral, e não só o parlamentar, baseia-se numa tal concepção mecanicamente catastrófica: a força do adversário ruirá matematicamente se, com método rigorosamente intransigente, ele for boicotado no campo governamental (à greve econômica se conjugam a greve e o boicote políticos)[1].
Para Gramsci, nenhum resultado é automático ou iminente. Ele desenvolve essa crítica a partir da análise das sociedades ocidentais contemporâneas e de sua sociedade civil. O centro da reflexão do sardo está em elaborar uma teoria da constituição dos sujeitos políticos e das condições subjetivas para a realização da ação política ou da práxis política.
Em texto anterior, Interregno como chave para compreender a crise[2], busquei caracterizar a noção de crise orgânica para pensar o problema da construção dos sujeitos. Neste ensaio, pretendo apresentar as movimentações dos setores dominantes, para tentar estabelecer um novo normal, de modo a fazer uma crítica de uma inação ou abstenção da esquerda socialista a uma práxis política. Além disso, pretendo também compreender os movimentos mais estruturais, o que nos ajudará a observar os caminhos do capital, bem como das elites, e, assim, apontar derrotas e possibilidades para nos movimentar em tempos em que a conjuntura nos empurra a debater somente o dia seguinte, dificultando um olhar mais a longo prazo.
Nesse sentido, este breve texto busca apresentar uma interpretação a partir das categorias de Gramsci para as profundas transformações que estamos sofrendo nas últimas duas décadas, mas que se aceleraram nos últimos cinco anos. Buscarei observar tendências e, dessa forma, subsidiar nossa práxis política no momento de maior crise da humanidade desde a Segunda Guerra Mundial. Para desenvolver esse raciocínio, dividirei o texto em três partes, quais sejam: 1) apresentar brevemente o Brasil na nova divisão internacional do trabalho; 2) discutir brevemente o regime da Nova República, os elementos da divisão internacional do trabalho e o seu impacto em nossa burguesia dependente; e, por fim, 3) abordar a aceleração dos tempos e o caso brasileiro pós-junho de 2013, a partir dos conceitos gramscianos.
Imperialismos e a divisão internacional do trabalho
O nosso país não pode ser entendido por si só, mas apenas a partir da divisão internacional do trabalho e de seu lugar no mundo. A história das economias periféricas é marcada por uma forte influência das dinâmicas do capitalismo mundial e pela forma como as nações imperialistas organizaram os processos de acumulação. Toda a formulação de Prado Jr., desde a primeira metade do século XX até suas produções tardias, é ancorada de forma consistente nesta elaboração:
Essas relações capitalistas de produção em que fundamentalmente se estrutura a economia brasileira em conjunto se entrosam no sistema internacional do capitalismo de tal forma que relegam essa economia a uma posição periférica e marginal. Esse entrosamento e essa situação dependente da economia brasileira com respeito ao sistema internacional do capitalismo se revelam hoje, sobretudo e essencialmente, nas relações comerciais e financeiras externas. E se isso representa modificação do primitivo e originário sistema colonial que tivemos no passado, ainda assim o continua e perpetua sob novas e mais complexas formas[3].
Logo, combinam-se formas atrasadas internas, que mantêm processos de coesão e dominação, com elementos modernos, com base na inserção da nossa economia nas cadeias de produção mundial. Neste sentido a relação com as classes subalternas num determinado Estado, no caso brasileiro, se dá a partir das relações autoritárias com nenhum resquício igualitário do capitalismo nas potências ocidentais. Isso ocorre exatamente pelo caráter dependente e subordinado da nossa burguesia em relação ao imperialismo e a forma como sempre se deu a nossa inserção na divisão internacional do trabalho.
E a burguesia nacional converte-se, estruturalmente, numa burguesia pró-imperialista, incapaz de passar de mecanismos autoprotetivos indiretos ou passivos para ações frontalmente anti-imperialistas, quer no plano dos negócios, quer no plano propriamente político e diplomático[4].
A esse respeito, Plínio de Arruda Sampaio Júnior[5], com base nestes clássicos, define a nossa burguesia dependente[6] como afeita aos negócios. Longe de ter um tipo de ganho a priori, ou uma ética do trabalho, o centro de nossa elite é a manutenção dos ganhos com o objetivo de manter um padrão de vida das elites do centro. Exatamente por isso elas estão dispostas a se submeter de forma subordinada ao imperialismo e aos mercados internacionais, ou seja, elas não são a priori afeitas ao comércio, indústria ou agronegócio e são construídas à base dos melhores ganhos nos mercados. Desse modo, não se entende o Brasil sem entender as movimentações que acontecem no capitalismo mundial e no imperialismo.
Após a Segunda Guerra Mundial, o ciclo expansivo do capital, sob o imperialismo norte-americano e a disputa com a União Soviética, teve como base a transferência de unidades produtivas para espaços nacionais a fim de ter acesso privilegiado a mercados consumidores sem a concorrência internacional. Porém, com a queda da União Soviética e a expansão do capital para todo o globo, essa dinâmica muda, impactando diretamente o Brasil como as demais nações periféricas. A partir do final da década de 1970, há uma profunda reestruturação com a decadência do fordismo e da União Soviética, gerando uma série de conflitos econômicos e políticos que começou a minar algumas bases dos Estados nacionais, fortalecendo ainda mais as relações de dependência com as nações centrais e imperialistas, assim surge a nova fase de desenvolvimento capitalista, a neoliberal.
A nação-Estado, embora seriamente ameaçada como poder autônomo, retém mesmo assim grande parte de disciplinar o trabalho e de intervir nos fluxos de mercados financeiros, enquanto se torna muito mais vulnerável a crises fiscais e à disciplina do dinheiro internacional. Estou, portanto, tentando a ver a flexibilidade conseguida na produção, nos mercados de trabalho e no consumo antes como um resultado de busca de soluções financeiras para tendências de crise do capitalismo do que o contrário. Isso implicaria que o sistema financeiro alcançou um grau de autonomia diante a produção real sem precedentes na história do capitalismo, levando este último a uma era de riscos financeiros igualmente inéditos[7].
Em relação à expansão das dimensões produtivas e financeiras da mundialização do Capital, Chesnais[8] aponta um processo de expansão sem precedentes que, por sua vez, implica uma nova forma de organização da alocação e acumulação, e mudanças quantitativas e qualitativas que se imbricam. Estamos diante de novos operadores, imersos em fundos de pensão ou mútuos títulos imobiliários, grandes bancos de investimentos, entre outros. Ademais, deve-se observar a forma como os processos de produção se transformam, pois o centro também são os ativos financeiros como um todo. O capital financeiro no manche tem como principal objetivo gerir os mercados de forma mais flexível. Logo, grande parte dos serviços e empresas estatais, seja no centro, seja na periferia, é privatizada e esses operadores são os investidores que alocam os recursos em busca de mais retorno. Chesnais também irá destacar que, longe da ideia de pulverização, a consequência direta é o sistema hierarquizado da economia mundial, ou seja, ocorrem o fortalecimento dos Estados imperialistas que detêm os processos de operação dos fundos financeiros e, por sua vez, a fragilidade da periferia do sistema.
Os Estados Unidos[9], a partir de diversos parceiros[10] desde 1980 até o início do século XXI, conseguiram exercer seu papel imperialista, construindo consensos e, quando conveniente, usando a força para impor uma nova dinâmica global. Apesar das crises recorrentes, especialmente na periferia do sistema, as políticas de liberalização econômica e privatização dos serviços públicos ditaram a toada no Brasil e no mundo. Apenas no início dos anos 2000, outro país passa a despontar como um importante ator global, com tendências imperialistas: a China. A mudança de patamar desse país asiático, agora puxador do crescimento global, transforma o comércio internacional e cria outra dinâmica econômica no mundo.
A entrada da China como membro na Organização Mundial do Comércio[11], com o seu forte poder de barganha e investimento, transforma esse país em motor do crescimento global tendo, dos anos de 2003 até 2008, um processo com elevadas taxas de crescimento. Políticas de atração de investimentos diretos, principalmente pela expansão do parque produtivo com o arrocho salarial, avanço nas parcerias com países exportadores de commodities e, no momento seguinte, com a expansão do seu mercado consumidor, a transformaram numa potência imperialista.
A entrada em cena da China, a partir de um processo gradual de desregulação dos mercados, teve um impacto muito grande no Brasil. No ano 2000, o país asiático detinha cerca de 2% do comércio exterior com o Brasil; já em 2009, o índice chegou a 13%, emparelhando com o principal parceiro, os EUA. Os números de 2019 já mostram a China como a principal parceira, com 21,45 bilhões de dólares de balança comercial positiva para os brasileiros, segundo a Agência Brasil[12]. A demanda por matérias-primas do gigante asiático não apenas alavancou o preço das commodities, como ainda fez o Brasil ter sucessivas entradas de divisa e ganhos comerciais. Em contrapartida, o avanço das manufaturas chinesas sobre o Brasil e a América Latina fez com que a indústria nacional retrocedesse não apenas no comércio exterior como também internamente. A esse respeito, Cunha[13] destaca que, por um lado, “sinaliza para uma especialização produtiva que faz eco ao modelo primário-exportador anterior a 1930; por outro, e intensificando os riscos dessa especialização regressiva, a concorrência chinesa impõe perdas de mercado para produtores e exportadores industriais do Brasil”.
Após 2008, com a ascensão da China e a crise na principal potência imperialista, a dinâmica mundial passa por novos períodos de conturbação, os regimes passam a ser questionados e o impasse imperialista se transforma em uma crise de hegemonia[14]. Apesar de a crise de divisas e a crise econômica iniciarem em 2009 no mundo, é em junho de 2013 que existe uma profunda ruptura entre representantes e representados no Brasil. Essa dinâmica econômica, sob influência sino-americana, é a chave para entender as movimentações de nossas elites, não apenas no momento anterior, mas também para apontar tendências para o futuro e para termos mais clareza sobre as nossas tarefas.
Contrarreformas, transformismo e crise da Nova República
A década de 1980, no Brasil, foi construída sob a égide da queda da ditadura e da crise econômica. O aumento da participação popular do cenário político – como as greves do ABC paulista, as greves gerais do final dos anos 1980, passando pelo movimento das “Diretas já” – apontava uma crise de hegemonia de um regime em decomposição. A existência de partidos de esquerda populares, como o PT, com projetos de democratização, e a mobilização popular promoveram a incorporação de diversas vitórias na Constituição de 1988. Porém, essas concessões não foram suficientes para estabelecer uma nova hegemonia. Em realidade, ela só pôde ser estabelecida após 1993.
A eleição de 1989 e o governo Collor apontavam um regime que ainda tinha pouca capacidade de se estabilizar. Como já assinalavam os clássicos marxistas do pensamento brasileiro, um país estruturado em um regime de escravidão e desigualdade gigante encontra enormes dificuldades para manter uma hegemonia. Mas o fim da ditadura e a implementação de uma nova constituição deram bases para isso. A abertura, no governo Collor, com as primeiras privatizações, tornou evidente a “burguesia de negócios”, um novo caminho para recuperar seus ganhos, o rentismo, a partir das operações financeiras, na forma de moeda, fundos ou outros mercados. Porém, é durante o processo de impeachment de Collor, em 1992, que o acordo é estabelecido e se começa a desenhar uma nova estabilidade no regime, que duraria 20 anos. A montagem do governo Itamar Franco, o acordo entre boa parte das elites políticas e o estabelecimento do PT na oposição estabeleceram o desenho que Marcos Nobre[15] chamou de PMDBismo e Coutinho[16] de hegemonia da pequena política.
A seguridade social, conquistada pela Constituição de 1988, em conjunto com a estabilização da moeda foram elementos centrais para a estabilização das classes subalternas, enquanto a nossa elite buscava desmontar o “antigo Estado varguista”, fazendo negócios na operação de fundos, ou liberando mercados para os “operadores financeiros”. Inicialmente, eram negócios com base na importação e na moeda, passando pelo processo de privatizações, até chegar aos títulos do governo. Aos poucos, as elites foram se adaptando, construindo relações de subalternidade em relação aos centros econômicos e ganhando suas fatias no mercado. Com setores médios tendo acesso a produtos importados e populares com o mínimo de garantias dadas pela Constituição da Nova República, os ganhos se mantinham salvos e o PT poderia assumir o governo.
Durante toda a década de 1990, a direção do Partido dos Trabalhadores já vinha se transformando. A experiência em prefeituras e a gestão de fundos de seguridade, pensão e saúde, nos grandes sindicatos e centrais foram criando, no início dos anos 2000, uma gama de dirigentes completamente distinta daquela que havia enterrado a ditadura. Com a chegada do Lula ao poder, em 2003, essa adaptação muda de patamar, com ao acesso às estatais e aos fundos e bancos públicos. Chico de Oliveira, em seu texto clássico, O ornitorrinco (2003), anuncia bem esses gestores: “A nova classe tem unidade de objetivos, formou-se no conceito ideológico sobre a nova função do Estado, trabalha no interior dos controles de fundos estatais e semi-estatais e está no lugar e faz a ponte com o sistema financeiro”[17]. Para nós, cabe menos o debate sobre ser uma nova classe (algo muito polêmico), e mais compreender a mudança na atitude desses dirigentes e o seu novo espaço de formação nas principais escolas de economia e administração do país com o seu papel como setor subordinado na relação direta com os operadores financeiros. Nesse mesmo texto, Oliveira vai além e destaca como os lugares que ambos frequentam são os mesmos. Bianchi e Braga[18] desenvolveram os argumentos de Oliveira a partir do processo de financeirização da burocracia sindical, mostrando como o processo de adaptação não era algo abrupto, mas algo que já gestava nesses dirigentes sindicais.
Partindo de Gramsci, o que podemos observar é a cooptação e mudança molecular mais ampla de setores ligados aos trabalhadores para agentes e operadores das políticas das classes dominantes e dirigentes. Note-se que a adaptação revisionista e reformista é algo amplamente debatido ao longo da história, a exemplo das polêmicas de Lenin com Bernstein, Kautsky e Plekhanov e a outros teóricos da II Internacional como um todo. Porém o sardo vai buscar a sistematizar este fenômeno a partir da elaboração do conceito de transformismo:
Os moderados continuaram a dirigir o Partido de Ação mesmo depois de 1870 e 1876, e o chamado “transformismo” foi somente a expressão parlamentar desta ação hegemônica intelectual, moral e política. Aliás, pode-se dizer que toda vida estatal italiana, a partir de 1848, é caracterizada pelo transformismo, ou seja, pela elaboração de uma classe dirigente cada vez mais ampla, nos quadros fixados pelos moderados depois de 1848 e o colapso das utopias neoguelfas e federalistas, com a absorção gradual mas contínua, e obtida com métodos de variada eficácia, dos elementos ativos surgidos dos grupos aliados e mesmo dos adversários e que pareciam irreconciliáveis inimigos[19].
Esse processo de absorção que acontece entre adversários ou inimigos irreconciliáveis, como bem destaca o marxista italiano, não está ligado apenas a um processo eleitoral, mas também ao afunilamento de um projeto comum a partir da vivência. O “transformismo” – de forma molecular, a partir de importantes dirigentes – já ocorria no período anterior à ascensão de Lula ao Governo Federal, mas muda de proporção na direção da máquina da União e passa a construir uma intelectualidade intensa que sai do campo radical para aquilo que ficou conhecido mais tarde como social-liberal. Uma parte importante de intelectuais fundadores do PT começa a construir narrativas que combatiam todos que criticavam o governo, defendendo a manutenção das políticas governamentais, mesmo que similares àquelas defendidas por agentes de mercados tradicionais. Ao longo dos anos, novos intelectuais e economistas, autodenominados desenvolvimentistas ou neokeynesianos, passam a defender a estrutura da dívida brasileira, assim como o tripé econômico. Nesse processo, a ação hegemônica dos operadores financeiros ganhou tamanha força a tal ponto que trocou seus intelectuais tradicionais por aqueles que eram seus antigos adversários ou inimigos[20].
Essa mudança de governos – sem transformações estruturais, pautados na conciliação, que fez com que as disputas se localizassem à margem dos projetos globais de sociedade – foi nominada por Coutinho de hegemonia da pequena política. Com o estabelecimento do regime, durante toda a década de 1990 e dos anos 2000, houve um processo de consenso passivo das classes subalternas que aceitaram de forma resignada o jogo eleitoral. Nesse momento, o espaço da política se restringe muito aos pleitos eleitorais e a política se restringe à administração do cotidiano. Nos termos de Gramsci:
A grande política compreende as questões ligadas à fundação de novos Estados, a luta pela destruição, pela defesa, pela conservação de determinadas estruturas orgânicas econômico-sociais. A pequena política compreende as questões parciais e cotidianas que se apresentam no interior de uma estrutura já estabelecida em decorrência de lutas pela predominância de diversas frações de uma mesma classe política[21].
Uma das características da pequena política, para Gramsci, vai além da aceitação passiva; ela consiste num consenso tal que os valores e ideais da classe dominante se transformam em senso comum, inclusive nas grandes massas subalternas. Esse tipo de indagação fica evidente quando analisamos diversas pesquisas qualitativas e quantitativas sobre valores ligados ao consumismo e empreendedorismo focalizadas na dita “classe C”, assim como as políticas pró-consumo do governo Lula que a própria Fundação Perseu Abramo[22], ligada ao Partido dos Trabalhadores, veio observar quando o projeto dos governos petistas foi colocado em xeque.
Esse conceito de hegemonia, ligado a uma prática e não a um agente histórico, foi muito criticado por importantes pesquisadores[23] dos postulados de Gramsci. A fração das elites que se organiza como setor dirigente e dominante, como busco apresentar neste texto, são os “operadores financeiros”, que, a partir do cenário internacional, estruturam os seus ganhos. Como a tradicional “burguesia de negócios”[24], eles migram seus investimentos e apostas conforme o jogo. Assim, a relação dos gestores de fundos de estatais e trabalhadores com esses agentes e a formação em espaços comuns cria uma simbiose. Sua acumulação de capital sempre buscou incorporar antigos serviços e fundos públicos; e os investimentos, as dinâmicas dos mercados internacionais e o imperialismo.
Ao apresentar a ideia de pequena política, Carlos Nelson Coutinho também propõe o conceito de contrarreforma para entender o aprofundamento das medidas neoliberais sem ganhos estruturais para as classes subalternas. A desconstrução dos direitos sociais se torna evidente quando trabalhamos com o desmonte na previdência social, o repasse da gestão de toda a saúde pública para a iniciativa privada e o fortalecimento da suplementar, ou com processos de privatização ou concessão de empresas e serviços públicos. Para Coutinho, esses processos são restaurações como meta de instalar “condições próprias do capitalismo selvagem” que são regidas exclusivamente pelas “leis do mercado”. Normalmente, ao abordar essas contrarreformas, apenas nos atentamos ao parlamento ou ao executivo, mas elas também abarcam diversas estruturas institucionais como o judiciário, outorgando novas formas de contratos trabalhistas[25] retirando direitos sociais.
Como já destacado anteriormente, com o início do governo Lula, também entra em cena um novo peso global, a China, que intensifica as transformações nos negócios e na estrutura produtiva brasileira. Os negócios baseados em privatizações, moeda e juros passam a ser vistos tendo como eixo commodities, mercado imobiliário e juros. Logo, sem grandes reformas estruturais, os governos petistas abriram a porteira para uma reorganização produtiva e social que já vinha se dando desde o início da década de 1990.
Reinaldo Gonçalves, em seu livro Desenvolvimento às Avessas[26], apresenta uma série de dados que são interessantes para mostrar esse processo. As exportações de produtos manufaturados caíram de 56,8% da balança comercial em 2002 para 45,6%, acompanhando o boom do preço das commodities até 2008, com o avanço do mercado chinês. Além da queda de 18% para 16% da indústria de transformação durante o governo Lula, a indústria também teve o seu menor crescimento, ainda mais em relação à mineração e ao agronegócio. Por fim, é importante destacar o diferencial de acumulação de capital e de setores: enquanto no início do governo petista os 50 maiores bancos tinham ativos totais iguais às 500 maiores empresas, em 2010, tais ativos aumentaram em 74%, mostrando mais uma vez a acentuação da tendência anterior.
O processo de expansão dos gastos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) com o financiamento de fusões e aquisições não apenas resultou em criação de oligopólios como ainda garantiu cadeiras e espaço de gestão e participação em muitas dessas empresas[27]. Os operadores dos fundos estatais expandiram sua atuação para essas outras áreas. Um caso interessante para se destacar é a relação com as empreiteiras, não apenas pelo financiamento, mas também pela construção de programas que possibilitaram manter aquecido o mercado imobiliário, como o Programa Minha Casa, Minha Vida[28], ou os grandes eventos esportivos.
Ademais, a crise de 2008 expõe o processo de financeirização e os ativos mundiais com pouco lastro na realidade, apesar de iniciar, pelo mercado imobiliário, nos EUA, a desconfiança de difundir sobre os mais variados tipos de investimento. Muitos textos[29] já foram produzidos sobre o assunto, mostrando como a relação sino-norte-americana foi a chave para compreender esse momento e será o caminho para enxergar novas tendências. No caso concreto, foi o crédito que permitiu, grosso modo, grande parte do consumo das famílias norte-americanas, consumo este que tem 70% de participação no PIB da maior economia do mundo. O consumo norte-americano, diga-se de passagem, foi também a garantia dos superávits comerciais de inúmeros países, entre eles, a China, e o próprio Brasil, razão pela qual se pode considerar o déficit comercial dos EUA existente até então como fator de equilíbrio do crescimento mundial[30].
Ao invés de aumentar a regulamentação, o que se viu foi a aceleração da exploração das formas de trabalho mais arcaicas e a precarização dos contratos de emprego para retomar os antigos níveis de acumulação. A incapacidade das elites de dar respostas fez com que a crise econômica se transformasse numa crise de hegemonia, em que os regimes dos mais diversos países fossem contestados e as massas saíssem de uma posição de passividade para ocuparem as ruas, mesmo que de forma desorganizada[31]. Assim foi a Primavera Árabe, na praça Taksim, em Istambul; e a forma como, da Espanha ao Occupy Wall Street, as revoltas se generalizaram pelo mundo.
No Brasil, não foi diferente. A expansão da política fiscal, principalmente com desonerações e a expansão de crédito logo após a crise mundial de 2008, fez com que os impactos fossem segurados por alguns anos. Porém, diversos economistas já apontavam o crescimento da vulnerabilidade externa estrutural e a deterioração das contas do governo, especialmente após 2011[32]. A crise estourou em junho de 2013, quando as massas, não conseguindo se manter nos patamares de ganho de renda do período anterior e com a péssima qualidade dos serviços públicos, saem às ruas.
Enquanto a esquerda buscou fingir que nada estava acontecendo, apontando apenas algumas propostas[33] num primeiro momento, mas recuando logo em seguida, a direita tradicional se apoiou fortemente na pauta da corrupção como alternativa, dando apoio à Operação Lava-jato. Foi junho que revelou o quanto a esquerda tradicional, ligada ao regime, já não era dona das ruas[34]. Para além do transformismo do PT, Francisco de Oliveira[35] aponta que um dos motivos da derrota da esquerda está na desorganização da classe, já que um dos elementos estruturais de contrarreforma e da reestruturação produtiva foi a capacidade de o Lula transformar classe em pobreza: aparece, então, a ideia de cuidado com os pobres e criação de consumidores, com quase supressão de identidade de classe e a geração de autonomia para um país que “cuida dos pobres”, invertendo, nesse sentido, a lógica da esquerda revolucionária de transformar pobreza em classe.
Jacobinismo às avessas e bolsonarismo
A saída das massas da passividade no Brasil, com um colapso econômico, colocou em xeque todo o regime anterior, gerando o que tratamos como “crise orgânica”[36]. Nesse cenário, observamos uma direita jogando para criar novos acordos e acelerando transformações estruturais para manter suas taxas de lucros, enquanto a esquerda se mantém sob a ilusão de que ainda vai conseguir resgatar o período que passou. Dessa forma, desde o início pós-eleição da Dilma, com o anúncio da política de austeridade, o PT tem dado as costas para as demandas apresentadas pelas manifestações que tomaram as ruas desde 2013 e tenta manter o jogo que o fez subir o planalto.
O primeiro elemento do transformismo passa por entender que aqueles que foram absorvidos pelas classes dominantes e pelos dirigentes, num projeto de hegemonia mais amplo, não fazem parte dessa classe. O processo de moderação e aplicação das contrarreformas faz com que as massas os vejam como parte do velho regime, assim como as elites buscam esses atores como os primeiros a ser eliminados. Ainda sobre transformismo, Gramsci explica:
Neste sentido, a direção política se tornou um aspecto da função de domínio, uma vez que absorção das elites dos grupos inimigos leva a decapitação destes e a sua aniquilação por um período frequentemente muito longo. A partir da política dos moderados, torna-se claro que pode e deve haver uma atividade hegemônica mesmo antes da ida do poder e que não deve contar apenas com a força material que o poder confere para exercer uma pressão eficaz…[37]
O fenômeno do transformismo foi analisado de maneira mais sistemática por Gramsci durante períodos de crise como um processo de acordos por cima ou momentos de modernização-conservadora. Porém, como lembra Coutinho[38] em diversos trechos, ele também pode ser encontrado em momentos de contrarreforma e em regimes estabilizados. No caso do petismo, como o partido foi parte da estabilização do período anterior, essa mudança se deu antes e se consolidou no período em que ele passou a governar. Nesse sentido, parece-me claro que a “aniquilação” do PT como projeto de poder nacional se deu no momento da crise de hegemonia. A esquerda do regime no governo federal foi o primeiro setor a ser rifado, o que culminou no projeto de impeachment da Dilma. Além disso, vale destacar que apesar do seu fim como projeto geral, o PT se manteve como partido eleitoral. Num país continental como o Brasil, com desenvolvimento desigual e combinado de experiências distintas, é natural que regiões reflitam processos em tempos e de formas distintas com as mudanças em curso, como é o caso do Nordeste em relação ao restante do país.
A perda da capacidade de ser dirigente da burguesia rentista, ocasionada pela ruína do regime da Nova República, não fez com que ela deixasse de ser dominante, mas que passasse a utilizar do expediente da força de forma mais incisiva. Logo, coerção, fraude e corrupção se fortalecem como signos desse período que se iniciou após junho. A crise em cena foi o espaço encontrado para avançar de forma acelerada os processos de contrarreforma, a fim de retomar os ganhos e os processos de acumulação, utilizando dos expedientes de força e dos acordos entre elites tradicionais, haja vista a fragilidade do petismo pós-eleição de 2014, seja pelo estelionato eleitoral, seja pelo golpe de 2016. Como resultado, a agenda liberal conta com o desmonte das leis trabalhistas, a reforma da previdência, a liberalização das terceirizações e a PEC do Teto. Essas são apenas algumas das reformas que entraram em curso.
Nesse sentido, não bastava a força para seguir implementando essa agenda, passou a ser fundamental também acolher parte das exigências das classes subalternas que passaram a participar da política. Enquanto a esquerda tentava estabilizar o regime como era antes, a direita focou no mar de exigências e insatisfações que junho apontou: a corrupção. Como é sabido, essa pauta, mesmo longe de ser central, foi apresentada naquele momento, e a forma como foi construída pelos setores dominantes, trazendo a Rede Globo com papel-chave, alçou-a ao centro, enquanto a esquerda simplesmente a negava, misturando-se com o regime em ruínas.
Nesse contexto é que surge a Operação Lava-Jato (OLJ), como chave para garantir uma das exigências dos de baixo. Ao entender esse momento como interregno é que se pode entender o modus operandi de instituições como a Polícia Federal, o Ministério Público e o Judiciário. A fratura estabelecida pela crise de hegemonia enfraqueceu a capacidade da classe dominante de comandar o Estado como um todo, acabando por gerar autonomia de instituições que antes estavam sob controle direto do setor dirigente. Desse modo é que vemos, durante todo o período, embates entre o Supremo Tribunal Federal (STF) e a Polícia Federal de Curitiba, com atuação de Janot contrapondo-se a decisões do Supremo, ou polícias federais de estados distintos dando prioridades a diferentes operações. Em contrapartida, podemos ver como, no período anterior, o surgimento dessas fraturas era rapidamente sufocado pelo regime, como o caso das operações Satiagraha ou Castelo de Areia. A articulação dos governos Lula, por meio de figuras como do ex-ministro Thomaz Bastos, com o Supremo, por meio de Gilmar Mendes, e setores do Ministério Público e da mídia conseguiram abafar os casos que, por sua vez, foram engavetados.
O setor da classe dominante, que tem como um dos centros a Rede Globo, foi um dos primeiros a entender o processo e que passou a pautar a construção de uma nova legitimidade para as mudanças em curso. Logo, a incorporação de algumas pautas de costumes e identidade foi inserida pelo recorte liberal, que Nancy Fraser trabalha de maneira precisa com o termo “neoliberalismo progressista”[39], se combina com o combate a corrupção. Enquanto a esquerda tradicional simplesmente negava todo o processo em curso, esse setor passou a tratar Sérgio Moro e a OLJ como eixo de propaganda e coesão social para as mudanças estruturais, prometendo, com uma mão, o combate à corrupção e o punitivismo, e, com outra, o desmonte do Estado varguista e a seguridade social de 1988. Desse modo, foram criando os tidos “novos jacobinos” como símbolos do republicanismo e da nova sociedade.
Sob essa ótica, Gramsci tratou o jacobinismo como uma das suas principais temáticas, desenvolvendo-a em princípio como uma ideia crítica no seu trabalho antes do caderno a um conceito-chave para entender os processos revolucionários, em especial, os comportamentos dos partidos no processo francês e seus paralelos. Em trabalho análogo, para entender o “lavajatismo”, vou tomar como base as formulações dos Cadernos do Cárcere[40]:
As velhas forças não querem ceder nada e, se cedem alguma coisa, fazem-no com a vontade de ganhar tempo e preparar uma contraofensiva. O terceiro estado cairia nestas “armadilhas” sucessivas sem a ação enérgica dos jacobinos, que se opõem a qualquer “parada” intermediária do processo revolucionário e mandam à guilhotina não só os elementos da velha sociedade, que resistem até morrer, mas também os revolucionários de ontem, hoje tornados reacionários.
Nesse processo, a incapacidade de conter as massas que entraram no jogo da política fez com que a classe dominante apostasse em dois jogos: por um lado, o de fortalecer os expoentes da OLJ como forma de eliminar qualquer tipo de pressão de bases populares para manter o antigo regime; por outro, entregar os setores ligados aos governos petistas como troféus no combate à corrupção e tentar gerenciar um acordo nacional com setores das elites políticas tradicionais, ancorado no habilidoso Michel Temer. Porém, esse setor conservador não conseguiu conter a “ação enérgica” dos agentes da operação que transbordaram suas ações e “mandaram para a guilhotina” setores da velha política, entre eles, parceiros da antiga ordem, podendo-se destacar, como exemplos emblemáticos, Eduardo Cunha, Michel Temer e Aécio Neves (apesar das diferenças institucionais, típicas do interregno, criarem uma barreira para a punição deles no Supremo). Logo, as aparências e a forma como se comportam esses setores nos fazem lembrar dos jacobinos pelo vórtice, que engole todos. Mas, no conteúdo do programa, eles se separam radicalmente da categoria gramsciana. No trecho a seguir, o autor debate as dificuldades da construção da Itália como uma nação:
Esta função e a consequente posição determinam uma situação interna que pode ser chamada de “econômico-corporativa”, isto é, no plano político, a pior das formas de sociedade feudal, e a forma menos progressista e estacionária: nunca se formou, e não se poderia formar-se, uma força jacobina eficiente, precisamente aquela força que, nas outras nações, criou e organizou a vontade coletiva nacional-popular e fundou os Estados modernos[41].
Para além da ação enérgica de levar às últimas consequências o processo revolucionário, e na radicalidade do programa, o movimento conseguiu envolver subalternos, operários e camponeses num projeto radical que levou a burguesia a se tornar classe dirigente e dominante no processo francês. Em sentido análogo, os “jacobinos” da Lava-Jato se projetam como farsa, pois eles enterram a direção política do regime de 1988, não para representar novos setores nem incorporar setores populares, mas para ressignificar a dominação dos operadores financeiros e dos setores dominantes a partir de outras formas ou aparências. A relação cotidiana com a intelectualidade, os agentes do Estado norte-americano e operadores do sistema financeiro; palestras e financiadores revelados na Operação “Vazajato”[42]; assim como as sabidas posições liberais e antipopulares na economia mostram o jacobinismo às avessas, destruindo o antigo regime para dar nova cara e direção à classe dominante.
Além disso, é importante destacar que as forças liberadas em junho de 2013 trouxeram para a rua e para as redes a disputa política antes restrita aos palácios. Os dois principais campos desse período foram à esquerda tradicional, sob a hegemonia do PT, como principal partido; e a direita, a partir de um campo vasto que continha autoritários, conservadores e liberais. É importante ressaltar que, no período de março de 2015 a outubro de 2018, com breves exceções, a nova direita constituída, sob a bandeira do combate à corrupção, teve larga vitória sobre a esquerda tradicional, o que ficou expressado nas eleições de 2018 e nos projetos pautados no momento seguinte.
É importante destacar, entretanto, que, para além dos dois campos referidos acima, foram constituídos protestos e formas de manifestações progressistas que se impuseram nas disputas de maioria a partir das consignas de junho. A primeira foi a “Primavera Feminista”, que ainda em 2015 surge como alternativa para derrotar o Congresso, impor o feminismo e dar visibilidade à direção feminina nas novas lutas em curso. Entender o movimento feminista e as mulheres como um dos setores mais avançados dos subalternos e assim elas portadoras de uma pauta de emancipação universal são reflexos deste salto no Brasil e no mundo.
Afinal, além do trabalho reprodutivo, as mulheres também cumprem papel fundamental no trabalho produtivo, já que são parcela importante do mercado de trabalho no Brasil. E esta combinação entre trabalho reprodutivo e produtivo que compõe a dupla e tripla jornadas de trabalho das mulheres faz com que elas trabalhem mais do que os homens — tarefa que, com a crise, se torna ainda mais árdua. E, à medida que isso acontece, torna-se mais latente a consciência das mulheres sobre sua condição de opressão, exploração e discriminação, bem como sua disposição para luta[43].
Em seguida, as ocupações de escolas derrotaram governos estaduais por todo o país, destacando o protagonismo juvenil e pautando um novo projeto de educação. Não é à toa que a principal manifestação contra Bolsonaro, nos dias 15 e 30 de maio de 2019, tenha vindo desse setor. Em relação à pauta antirracista, apesar de não se expressar como força única numa determinada ocasião, de forma molecular, vem pautando o debate em outro patamar na sociedade brasileira. Vale mencionar que uma das figuras que expressa esse novo movimento radicalmente democrático e popular vindo dos de baixo, em sua totalidade, é a ex-vereadora Marielle Franco, como expressou sua luta e seu brutal e injusto assassinato.
Outro evento importante, do ponto de vista das lutas da classe trabalhadora, foi a greve geral realizada durante o governo Temer e que barrou naquele momento a reforma da previdência, colocando em xeque o governo instaurado, que já possuía o pior índice de popularidade da história e foi enterrado no momento seguinte pela OLJ. O breve intervalo do governo Temer foi um período no qual os setores dominantes tentaram uma saída conservadora, mais gradual, para a constituição de um novo regime e de uma nova legitimidade. A radicalidade das “reformas” liberais sinalizava, para os operadores do mercado financeiro, as transformações nas estruturas do regime que vinham desde o varguismo, porém, a fragilidade com que os dirigentes se ligavam ao antigo regime mostrou a debilidade da legitimidade e da força para se mostrarem viáveis.
Além disso, para a caracterização das condições objetivas e subjetivas que permeiam a conformação da classe trabalhadora como um sujeito da luta política desde junho de 2013, é fundamental resgatar a noção do proletariado precarizado, ou, como se refere Braga, precariado[44]. Pode-se destacar a mudança de patamar que os movimentos de moradia tiveram durante o primeiro governo Dilma, no período dos grandes eventos, especialmente com o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra – MTST na região metropolitana de São Paulo; e o movimento de caminhoneiros, que parou o Brasil no primeiro semestre de 2018. Apesar das diferenças enormes de organização e de projeto político, o setor social do proletariado, que se movimenta de maneira explosiva[45], tem sido este, e se encontra cada vez mais vulnerável. Por outro lado, a reorganização do mundo do trabalho e a incapacidade da esquerda reinventar as suas formas de organização mostram as dificuldades para que se construa uma resposta de direção radical, ou aos dilemas subjetivos, que não seja o retorno à política de expansão do consumo ligado ao lulismo. Essa incapacidade reforça o quadro que apresentei de interregno e crise de hegemonia ao longo do texto.
O colapso da Nova República e a não constituição de um setor dirigente no período anterior faz com que o interregno se prorrogue e “fenômenos patológicos” apareçam como resposta. Desta forma, a reorganização das forças reacionárias e autoritárias no entorno de Jair Bolsonaro permitiram que ele se viabilizasse como alternativa no vácuo de poder. A aproximação junto a setores liberais, em especial, Paulo Guedes, viabilizou sua eleição com a consigna de que, como os outros, ele seria domado pelas forças do mercado e da política.
Sem o distanciamento histórico necessário, é mais difícil apresentar e debater o presente, sendo inevitável partir da própria caracterização dos grupos políticos, apontar suas políticas e tentar observar tendências. Como este texto tem como objetivo tentar observar essas tendências, a fim de alimentar a práxis política num momento de grandes transformações estruturais, é importante destacar a movimentação dos operadores financeiros para realizar uma solução por cima para resolver a crise de hegemonia no Brasil, o papel da pandemia e as tarefas da esquerda socialista.
Este momento de interregno não é algo que uma nação ou país consiga sobreviver de forma perene: mesmo que com breves momentos de estabilização é fundamental para os setores dominantes, no embate com os subalternos, que reestabeleçam uma nova normalidade, a partir de movimentos de inovação e restauração. Esta movimentação, longe de ser algo linear ou simples, só pode ser entendida por em efeito de um longo arranjo político. Não existe mecanicismo e, nesse sentido, o sistema e a burguesia trabalham constantemente para estabilizar e manter suas posições como dominantes e dirigentes dos processos[46]. Neste caso, o centro da modernização-conservação está na estrutura de relações de produção, que passaram dos períodos de contrarreforma do período anterior para uma mudança de natureza do Estado, assim como suas novas formas de estruturação e regulamentação. O impasse está ainda na estabilização do regime político, que, apesar de serem alçados na saída modernizadora-autoritária, se encontra por um lado com setores tecnocráticos e por outro reacionários, o que pretendo desenvolver mais à frente.
Para descrever melhor e caracterizar as transformações do nosso período e na estrutura-superestrutura do Estado brasileiro pretendo apontar três eixos: 1) as transformações nas relações entre capital e trabalho a partir do desmonte da estrutura varguista nos três poderes – executivo, legislativo e judiciário; 2) a reorganização da seguridade social a partir da gestão privada dos fundos e serviços públicos, tendo centralidade na organização da transferência de renda condicionada; 3) o fortalecimento do aparelho de segurança do Estado, devido ao prestígio do punitivismo, com o objetivo de manter a coesão social.
A conquista da capacidade dirigente da classe dominante ou de novos setores não é algo trivial e simples numa crise nas proporções em que vivemos. Momentos como este, de deterioração das velhas instituições e da falta de consolidação das novas, primam pela presença de figuras bonapartistas[47] como exemplos para mediar soluções entre o velho e o novo. É a partir dessas lideranças carismáticas que os programas são expressos e novas hegemonias são inseridas. Diferentemente do momento anterior, elas agora não são estabelecidas por movimentos militares, como no período anterior: “No mundo moderno, as forças sindicais e políticas, com meios financeiros incalculáveis de que podem dispor pequenos grupos de cidadãos, complicam o problema”[48]. É neste contexto, e no vazio da esquerda que surgem alternativas como o bolsonarismo e os dirigentes da OLJ.
No marco do interregno, devido à falência dos partidos do regime em questão e à ausência de uma alternativa política apresentada pela OLJ, é que surge Bolsonaro. Ele faz parte de um grupo autoritário e reacionário que não estava expresso na política da Nova República, mas que representava a política do baixo oficialato dos órfãos do regime militar[49]. A composição com Paulo Guedes – representando setores do mercado financeiro e operadores de fundos, com visões arcaicas do liberalismo econômico – e com setores religiosos conservadores deu concretude à sua viabilidade política como figura autônoma nesse momento de crise.
Alguns elementos são fundamentais para entender o bolsonarismo. Primeiro, a constante política de agitação e propaganda – em relação à sua base mais orgânica, que deve estar no entorno de 20% da população –faz com que ele mantenha a sua força independentemente de ter maioria social ou não. Em segundo lugar, os militares: apesar de não serem fiadores últimos dos projetos, são parte do acordo e comungam de ideais similares, a ver o caso de Tarcísio Gomes de Freitas, responsável pela agenda de privatização, e o seu prêmio da LIDE[50]. Por fim, o fato de ser movido por uma política permanente ligada ao reacionarismo cultural e ao armamentismo. Até o estouro da crise sanitária da Covid-19, os operadores financeiros[51] viam com bons olhos sua capacidade de implementar as políticas liberais, sem levar em conta o autoritarismo e o reacionarismo cultural.
Assim como aconteceu com outros líderes carismáticos bonapartistas, o grande trunfo de Bolsonaro para conseguir manter-se foi sua força ideológica, que é capaz de movimentar e agir sobre um setor de massas. Assim, serve como um trunfo na “guerra de posição”[52], no campo econômico a serviço das classes dominantes, que ainda tentam se consolidar como classe dirigente. Então, mesmo com o processo recessivo e as condições econômicas se deteriorando para a grande maioria da população, sua popularidade foi pouco impactada e os projetos econômicos ultraliberais e autoritários se mantinham em voga. Como o bolsonarismo se apresenta como farsa do regime anterior mal resolvido, um sintoma mórbido deste interregno, sua característica, é a instabilidade além das dificuldades de se estabelecer como hegemônico. A chegada da Covid-19 ao Brasil acelera esse processo colocando em xeque a capacidade deste setor se segurar no poder.
Apesar de apresentar um projeto de moralização e punição como resposta aos anseios populares de grande parte das massas, que passou a participar da política, a Operação Lava-Jato tinha atores como Deltan Dallagnol, Procurador da República, e Sérgio Moro, à época juiz federal, que eram amplamente conhecidos, mas não podiam se postular como alternativa. Logo, a crise orgânica e a forma como o movimento mais à direita se organizou fizeram com que Bolsonaro, como figura antirregime, tomasse esse papel. Moro, ao aceitar ser Ministro da Justiça do presidente eleito, clarifica seu projeto, ainda confuso como juiz, e se insere no tabuleiro como alternativa de poder para grande parte da elite que não vê mais a possibilidade dos velhos jogadores estabilizarem o regime em outro patamar.
Após 16 meses de governo, houve o rompimento de Moro[53] com Bolsonaro, algo que embaralhou novamente as cartas e fragilizou o governo reacionário e autoritário de plantão. Agora, outro jogador se coloca em condições de levar adiante o projeto dos setores dominantes que precisa de uma liderança carismática para se concretizar. Em tempos de crise, ainda mais sendo esta a maior da história da República brasileira, em termos sanitários, econômicos e sociais, muito vai depender da ação política. Os políticos de direita da velha ordem se mostram muito frágeis como alternativa e Moro, a depender de como se movimenta e postula, pode ocupar esse espaço ideológico. Porém, com a deterioração das condições da sociedade brasileira e a posição de poder ocupada neste momento, talvez seja difícil fazer previsões em médio prazo.
Nesse sentido, os setores dominantes jogam com os dois setores, o reacionário e o tecnocrático. Por mais que o segundo tenha uma relação mais orgânica e uma capacidade maior de estabilizar o regime com Moro, a incapacidade de movimentação dos outros setores e o tamanho do colapso social e econômico ainda colocam Bolsonaro como uma alternativa.
A esquerda tradicional, que tem Lula como a sua principal figura pública, mantém-se inerte esperando que, das ruínas, ela possa surgir como salvadora. Sem conseguir intervir no agora, a esquerda do regime espera confiante que 2022 chegue e a crise econômica e social leve algum deles ao poder. Talvez pelo medo de fortalecer o bolsonarismo[54], ou pela cumplicidade com os setores dominantes[55], com a espera de uma unidade nunca chega, a inércia vai fazendo desaparecer a esquerda do cenário político. Enquanto isso, a partir de um transformismo molecular, a Rede Globo contrata figuras dos movimentos culturais da periferia e lideranças das ocupações de escola; além disso, as fundações passam a financiar figuras do movimento negro e de mulheres; e deputados combativos são absorvidos pela lógica parlamentar, com conchavos da pequena política. Sem projeto alternativo, ou com o olho no retrovisor tentando propagandear um regime que virou morto vivo, a esquerda se comporta como se nada estivesse acontecendo.
É difícil descrever ou falar sobre a crise humanitária, sanitária, econômica, ambiental e social em que vivemos no Brasil. Não pretendo pautar o desastre humano que se avizinha, apenas suas consequências políticas. Um elemento é a aceleração do tempo da política, por isso, gostaria de, por fim, destacar as tendências que estão se acentuando[56]. A primeira contradição é que enquanto se afirma que o serviço público é essencial, existe um profundo desmonte das carreiras dos servidores. Assim, provavelmente com a desculpa da crise econômica, projetos de fim de estabilidade e redução dos salários podem entrar em pauta, além da manutenção das privatizações e da estratégia de transferir diversos serviços para a gestão privada[57]. A segunda contradição é o avanço das políticas sociais focais em detrimento das universais que, num país como o Brasil, podem cumprir um papel muito importante, mas, a partir do desenho como a classe dominante as estruturam, serão uma forma mais barata de manter a coesão social[58]. A última e mais importante é o controle populacional. Desse modo, com o avanço das câmeras de reconhecimento facial e de temperatura, a ampliação do controle tributário e fiscal com a expansão dos auxílios, a instalação de programas de celular e rastreamento, a crise vai colocar o controle dos governos sobre as pessoas num outro patamar[59].
No Brasil, com a diferença econômica e social abissal e um déficit democrático gigante, é difícil falar em estabilização, ainda mais por um longo tempo, como bem apontam Caio Prado Júnior e Florestan Fernandes. O que vemos em curso é a tentativa de estabelecer um novo normal acordado pelos de cima. Além de um transformismo molecular, a partir de captura de novas lideranças do “subversivismo esporádico, elementar, não orgânico, das massas populares”, observa-se a acolhida de elementos das exigências que esses setores fazem, como o punitivismo, a moralidade na vida pública e, agora, a ampliação de programas de transferência de renda.
Por fim, o que se observa é um processo agudo de flexibilização das relações de produção e a financeirização dos serviços públicos por gestão privada, ou seja, os grupos dominantes tentam recuperar a sua capacidade dirigente a partir de uma estrutura mais adequada para seus negócios. Assim como Gramsci via o corporativismo como ideologia capaz de dar direção aos grupos dominantes, hoje, vemos a biopolítica[60] e os controles populacionais estruturando o Estado moderno. No caso brasileiro, eles estão avançando nos processos de acumulação. No Brasil, pode-se dizer que é o fim do Estado corporativo fundado por Vargas e o surgimento de um Estado com características neoliberais sobre novas fundações, com políticas mínimas de transferência de renda e gestão e alocação de recursos dada pelos mercados. É fundamental que a esquerda socialista note a profundidade das mudanças, que, ao final, poderão ter elementos de restauração, mas serão muito distintos do que conhecemos anteriormente.
Todas essas mudanças, longe de impulsionarem processos de resignação e apatia, têm de ser transformadas em disputas de projetos. A crise orgânica que se mantém em curso e as dificuldades que os grupos dominantes têm para controlar a situação são brechas a ser disputadas, porém, a forma reativa como a esquerda tradicional responde a cada passo ou a maneira fragmentada e esporádica como os setores radicalizados respondem indicam pouca capacidade de enfrentar os assédios do transformismo ou o fatalismo que anuncia o fracasso do Bolsonaro como a nossa vitória. Nesse cenário, deve sair do movimento de mulheres, da negritude e da relação orgânica com o precariado o projeto a ser apresentado. De forma orgânica, várias organizações e intelectuais, como Eliane Brum[61] e Vladimir Safatle[62] já vêm há um tempo nos provocando.
Parece claro, e para cada vez mais setores, que a nossa primeira tarefa é derrotar o projeto reacionário, autoritário e obscurantista de Bolsonaro, inclusive articulando com amplos setores da sociedade. Porém, a práxis política não pode se limitar a isso, ver as tendências e ter política para o horizonte será central na disputa do futuro.
Nesse cenário, a única coisa que me assusta é ver uma esquerda apática, que, assim como Dom João VI, espera de forma tranquila o exército de Napoleão chegar a terras portuguesas, mas, diferentemente dele, não temos e não podemos nos trasladar de terras brasileiras. Num momento como esse, é fundamental que a esquerda socialista se apresente, pois é dos grandes invernos que podem surgir as primaveras. “De resto, todo colapso traz consigo desordem intelectual e moral. É necessário criar homens sóbrios, pacientes, que não se desesperem diante dos piores horrores e não se exaltem em face de qualquer tolice: pessimismo da inteligência, otimismo da vontade”[63].
[1] GRAMSCI, Antonio. Cadernos do cárcere. v. 3. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001, p. 104-105. (Edição de Carlos Nelson Coutinho, com a colaboração de Luiz Sérgio Henriques e Marco Aurélio Nogueira).
[2] HENRIQUES, Frederico. Interregno como chave para compreender a crise. Revista Movimento, 16 fev. 2020. Disponível em: https://movimentorevista.com.br/2020/02/interregno-como-chave-para-compreender-a-crise/. Acesso em: 6 maio 2020.
[3] PRADO JR, Caio. A revolução brasileira. 4ª edição. São Paulo: Editora Brasiliense, 1972: 86.
[4] FERNANDES, Florestan. A Revolução burguesa no Brasil: Ensaio de interpretação sociológica. Rio de Janeiro: Zahar editores, 1975: 305.
[5] SAMPAIO JÚNIOR, Plínio de Arruda. O Impasse da “formação nacional”. In: FIORI, J. L. (org.). Estados e Moedas no Desenvolvimento das Nações. Petrópolis: Vozes, 1999.
[6] Termo amplamente debatido nos textos de Florestan Fernandes, em especial na sua obra clássica A Revolução Burguesa no Brasil.
[7] HARVEY, David. Condição pós-moderna: uma pesquisa sobre as origens da mudança cultural. 15. ed. Tradução de Adail Ubirajara Sobral e Maria Stela Gonçalves. Rio de Janeiro: Edições Loyola, 2006: 181.
[8] CHESNAIS, François. A mundialização do capital. São Paulo: Xamã, 1996.
[9] O fim do padrão-ouro, a instituição do dolár como moeda de troca internacional, plano de injeção de crédito em antigas potências e o colapso da União Soviética são alguns elementos que, ao longo dos 40 anos do pós-segunda guerra, fixaram os Estados Unidos como potência imperialista global.
[10] Como o caso da Alemanha e da Inglaterra, na Europa, ou do Japão na articulação com os Tigres Asiáticos na Ásia.
[11] CUNHA, André Moreira. A China e o Brasil na Nova Ordem Internacional. Rev. Sociol. Polit., Curitiba, v. 19, supl. 1, p. 9-29, novembro de 2011.
[12] https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-04/balanca-comercial-teve-saldo-positivo-de-us-47-bi-em-marco
[13] CUNHA, André Moreira. A China e o Brasil na Nova Ordem Internacional. Rev. Sociol. Polit., Curitiba, v. 19, supl. 1, p. 9-29, novembro de 2011: 25.
[14] “Logo, a crise de hegemonia, autoridade ou interregno inicialmente também se expressa no campo internacional. Primeiramente, na crise econômica de 2007-2008, mas, a partir de 2011, passa para o âmbito político. Crises dos regimes, como a decadência dos Estados Unidos como potência hegemônica, fortalecimento da China e diversos atores regionais, apontam para aqueles elementos que Gramsci destacava na década de 20. O conflito entre um crescente “cosmopolitismo da vida econômica” e o “nacionalismo da vida estatal”. Guerras regionais, crise em blocos comerciais, Brexit, Trump e governos de extrema direita expressam muitos destes movimentos.” (HENRIQUES, 2020).
[15] NOBRE, Marcos. Choque de democracia: razões da revolta. São Paulo: Companhia das Letras, 2013.
[16] COUTINHO, Carlos Nelson. A hegemonia da pequena política. In: OLIVEIRA, Francisco de; BRAGA, Ruy; RIZEK, Cibele. Hegemonia às avessas: economia, política e cultura na era da servidão financeira. São Paulo: Boitempo, 2010.
[17] OLIVEIRA, Francisco de. Crítica à razão dualista/O ornitorrinco. São Paulo: Boitempo, 2003. p. 148.
[18] BIANCHI, A.; BRAGA, R. Capitalismo patrimonial nos trópicos? Terceira via e governo Lula. Universidade e Sociedade, v. 13, n. 31, p. 205-216, 2003.
[19] GRAMSCI, Antonio. Cadernos do cárcere. v. 5. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001. p. 63. (Edição de Carlos Nelson Coutinho, com a colaboração de Luiz Sérgio Henriques e Marco Aurélio Nogueira).
[20] Ao analisar o Risorgimento, Gramsci, detalha esse processo de transformação em diversas lideranças e partidos populares como elemento histórico do processo de unificação e construção da Itália.
[21] GRAMSCI, Antonio. Cadernos do cárcere. v. 3. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001. p. 21. (Edição de Carlos Nelson Coutinho, com a colaboração de Luiz Sérgio Henriques e Marco Aurélio Nogueira).
[22] FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO. Disponível em: https://fpabramo.org.br/publicacoes/publicacao/percepcoes-e-valores-politicos-nas-periferias-de-sao-paulo/. Acesso em: 6 maio 2020.
[23] Ver, por exemplo, BIACHI, Alvaro. Hegemonia da pequena política: uma fórmula errada que deu certo. Junho Blog, 2015. Disponível em: http://blogjunho.com.br/hegemonia-da-pequena-politica-uma-formula-errada-que-deu-certo/. Acesso em: 6 maio 2020.
[24] Termo utilizado por Plínio de Arruda Sampaio Junior para caracterizar a burguesia brasileira.
[25] Nadya Guimarães e Jonas Bicev fazem estudos sistematizados da pulverização de tipos de contratos com carteira assinada, mostrando a flexibilização dentro do setor formal durante os governos petistas. Ver GUIMARAES, Nadya Araujo. O que muda quando se expande o assalariamento (e em que o debate da Sociologia pode nos ajudar a compreendê-lo)? Dados, Rio de Janeiro, v. 54, n. 4, p. 533-568, 2011. GUIMARAES, Nadya. A.; CONSONI, F. L.; BICEV, Jonas T. Os Intermediários no Mercado de Trabalho: qual o local do Brasil frente as recentes tendências internacionais? In: CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO LATINO-AMERICANA DOS ESTUDOS DO TRABALHO ALAST, 7., 2013, São Paulo. Anais […]. São Paulo: ALAST, 2013. v. 1. p. 1-33.
[26] GONÇALVES, Reinaldo. Desenvolvimento às avessas: verdade, má-fé e ilusão no atual modelo brasileiro de desenvolvimento. Rio de Janeiro: LTC, 2013.
[27] A Revista Movimento número 5, na entrevista com Plínio de Arruda Sampaio Júnior, assim como o texto de Bernardo Correia trabalham bem esse debate.
[28] Para entender melhor o processo de amarração entre o capital financeiro e imobiliário, ver ROLNIK, Raquel. Guerra dos lugares: a colonização da terra e da moradia na era das finanças. São Paulo: Boitempo, 2015.
[29] Para citar duas importantes referências: 1) David Harvey. O Enigma do Capital: e as crises do capitalismo. Tradução de João Alexandre Peschanski. São Paulo, SP: Boitempo, 2011. 2) François Chesnais. Finance capital today: corporations and banks in the lasting global slump. Boston, Brill Academic Pub., 2016.
[30] Para entender melhor esse movimento, vale ver o texto de ROBAINA, Roberto. O giro histórico. Revista Movimento, 15 set. 2018. Disponível em: https://movimentorevista.com.br/2018/09/um-giro-historico-na-situacao-mundial/. Acesso em: 6 maio 2020.
[31] Conforme já citado anteriormente no texto “Interregno como chave para compreender a crise” eu busco detalhar os conceitos e a movimentação dessa crise (HENRIQUES, 2020).
[32] GONÇALVES, Reinaldo. Desenvolvimento às avessas: verdade, má-fé e ilusão no atual modelo brasileiro de desenvolvimento. Rio de Janeiro: LTC, 2013
[33] Dilma acena com um plebiscito e 5 propostas para responder às ruas, mas logo em seguida recua. http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/06/dilma-propoe-5-pactos-e-plebiscito-para-constituinte-da-reforma-politica.html
[34] Os estudos de Ângela Alonso, pesquisadora do CEBRAP, falam de três setores que mobilizaram e organizaram as ruas: esquerda tradicional, ligada aos partidos e movimento populares; autonomistas, com pautas específicas e identitárias; e os patriotas, que organizaram a direita em torno das pautas contra a corrupção.
[35] RIDENTI, Marcelo Siqueira; MENDES, Flávio da Silva. Faça dualismo ao ornitorrinco: entrevista com Francisco de Oliveira. Cafajeste. CRH, Salvador, v. 25, n. 66, p. 601-622, dezembro de 2012. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-49792012000300014&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 29 abr. 2020.
[36] No momento em que a crise orgânica combina-se com a de hegemonia, nas palavras do Gramsci: “(…) o conteúdo é a crise de hegemonia da classe dirigente, que ocorre ou porque a classe dirigente flui em determinado grande empreendimento político pelo qual pediu ou impôs pela força o consentimento das grandes massas (como a guerra), ou porque amplas massas (especialmente camponeses e de pequenos burgueses intelectuais) passaram de repente da passividade política a certa atividade e apresentaram reivindicações que, no seu complexo desorganizado, constituem uma revolução” em: GRAMSCI, Antonio. Cadernos do cárcere. v. 3. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001. p. 60. (Edição de Carlos Nelson Coutinho, com a colaboração de Luiz Sérgio Henriques e Marco Aurélio Nogueira).
[37] GRAMSCI, Antonio. Cadernos do cárcere. v. 5. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001. p. 63. (Edição de Carlos Nelson Coutinho, com a colaboração de Luiz Sérgio Henriques e Marco Aurélio Nogueira).
[38] Ver COUTINHO, Carlos Nelson. A hegemonia da pequena política. In: OLIVEIRA, Francisco de; BRAGA, Ruy; RIZEK, Cibele. Hegemonia às avessas: economia, política e cultura na era da servidão financeira. São Paulo: Boitempo, 2010.
[39] https://movimentorevista.com.br/2018/02/do-neoliberalismo-progressista-a-trump-e-alem-nancy-fraser/
[40] GRAMSCI, Antonio. Cadernos do cárcere. v. 5. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001. p. 79-80. (Edição de Carlos Nelson Coutinho, com a colaboração de Luiz Sérgio Henriques e Marco Aurélio Nogueira).
[41] GRAMSCI, Antonio. Cadernos do cárcere. v. 3. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001. p. 17. (Edição de Carlos Nelson Coutinho, com a colaboração de Luiz Sérgio Henriques e Marco Aurélio Nogueira).
[42] Série de reportagens publicada em 2019 sobre a Operação Lava-Jato que apresentava a relação promíscua entre interesses privados e agentes públicos.
[43] https://movimentorevista.com.br/2019/05/por-um-feminismo-anticapitalista/
[44] BRAGA, Ruy. A política do precariado: do populismo à hegemonia lulista. São Paulo: Boitempo, 2012.
[45] BRAGA, Ruy. Rebeldia do Precariado:trabalho e neoliberalismo no Sul global. São Paulo: Boitempo, 2017.
[46] Nesse caso é interessante apontar o conceito de “revolução passiva” em Gramsci: “O conceito de ‘revolução passiva’ deve ser deduzido rigorosamente dos dois princípios fundamentais da ciência política: 1) nenhuma forma social desaparece enquanto as forças produtivas que nela se desenvolveram ainda encontrarem lugar para um novo movimento progressista; 2) a sociedade não se põe tarefas para cuja solução ainda não tenha germinado as condições necessárias, etc. Naturalmente, estes princípios devem ser, primeiro, desdobrados criticamente em toda a sua dimensão e depurados de todo o resíduo de mecanicismo e fatalismo”. em: GRAMSCI, Antonio. Cadernos do cárcere. v. 5. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001. p. 321. (Edição de Carlos Nelson Coutinho, com a colaboração de Luiz Sérgio Henriques e Marco Aurélio Nogueira).
[47] Note que estamos falando do momento de colapso da Nova República. Neste período, bonapartistas ainda muito ligados a ela, como Lula, Ciro ou Doria, têm pouco espaço para recomposição. Isso não significa que, no momento de restauração seguinte, eles não possam cumprir um papel-chave.
[48] GRAMSCI, Antonio. Cadernos do cárcere. v. 3. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001. p. 77. (Edição de Carlos Nelson Coutinho, com a colaboração de Luiz Sérgio Henriques e Marco Aurélio Nogueira).
[49] Os textos de Vladimir Safatle vem tratando bem deste assunto no último ano, como, por exemplo, nesta entrevista: https://dialogosdosul.operamundi.uol.com.br/brasil/64010/safatle-bolsonaro-vem-dos-poroes-da-ditadura-e-se-acha-capaz-de-esconder-os-corpos.
[50] Um dos principais grupos empresariais brasileiros.
[51] O exemplo mais emblemático foi a declaração de Candido Bracher, então presidente do Itaú, de que a manutenção do desemprego garantia o controle inflacionário e de que “o que tenho notado é que o avanço das reformas não tem sido influenciado pelas turbulências políticas”, sendo conivente com as políticas machistas e racistas do Presidente da República.
[52] Esse papel é similar ao que Gramsci coloca no fascismo italiano, inclusive descrevendo de forma assertiva em GRAMSCI, Antonio. Cadernos do cárcere. v. 1. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001. p. 298-300. (Edição de Carlos Nelson Coutinho, com a colaboração de Luiz Sérgio Henriques e Marco Aurélio Nogueira).
[53] Diferente de setores que colocavam Moro e Bolsonaro na mesma chave, o rompimento, com uma série acusações, mostrou que o ex-juiz federal sempre estava colocado como um “plano B”, caso Bolsonaro não estabilizasse ou implementasse o projeto como os operadores financeiros esperavam.
[54] Como muitos setores que acreditam ser o abstencionismo uma posição política.
[55] Veja-se o caso do PT, por meio de seus governadores e de grande parte de sua bancada federal, que simplesmente homologa planos de ajuste, pois sua relação com os setores financeiros e dominantes são orgânicas.
[56] Estas mudanças já estão sendo bem destacadas pelas feministas marxistas como Verónica Gago, em: http://revistaanfibia.com/ensayo/deuda-vivienda-trabajo-una-agenda-feminista-la-pospandemia/, e Tithi Bhattacharya, em: https://www.dissentmagazine.org/online_articles/social-reproduction-and-the-pandemic-with-tithi-bhattacharya.
[57] É impressionante como boa parte das políticas do SUS de combate à Covid-19 em São Paulo está sendo gerenciada por organizações sociais e outras iniciativas privadas, como redes de farmácias.
[58] Nas entrevistas de Francisco de Oliveira, ele sempre cita que, quando a elite financeira brasileira descobrisse os Programas de Transferência de Renda Condicionada (TRC), seria uma verdadeira crise para a esquerda. Também vale a pena citar que parte importante dos operadores financeiros já vem defendendo os TRC há algum tempo, o mais ilustre é Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central de FHC.
[59] A exaltação dos modelos asiáticos como formas de controle de população e transmissão são elementos debatidos todos os dias na grande imprensa e junto a formuladores de políticas públicas.
[60] Forma por excelência de controle no neoliberalismo apontado por Foucault. Tema desenvolvido por DARDOT, Pierre; LAVAL, Christian. A nova razão do mundo: ensaio sobre a sociedade neoliberal. São Paulo: Boitempo, 2016.
[61] BRUM, Eliane. O futuro pós-coronavírus já está em disputa. Como impedir que o capitalismo, que já nos roubou o presente, nos roube também o amanhã? El País, 8 abr. 2020. Disponível em: https://brasil.elpais.com/opiniao/2020-04-08/o-futuro-pos-coronavirus-ja-esta-em-disputa.html. Acesso em: 7 maio 2020.
[62] SAFATLE, Vladimir. A esquerda que não teme dizer seu nome. 1. Ed. São Paulo: Três Estrelas
[63] GRAMSCI, Antonio. Cadernos do cárcere. v. 2. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001. p. 267. (Edição de Carlos Nelson Coutinho, com a colaboração de Luiz Sérgio Henriques e Marco Aurélio Nogueira).
*Frederico Henriques é sociólogo, dirigente do PSOL e do Movimento Esquerda Socialista (MES).





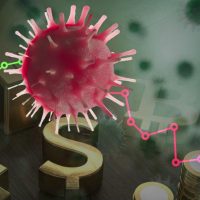


 É muito difícil dialogar com o povo evangélico, mas não é impossível. Hoje, no Brasil, temos diversas frentes que se criaram com o objetivo de organizar esse povo cristão, com diferentes ideologias políticas e religiosas.
É muito difícil dialogar com o povo evangélico, mas não é impossível. Hoje, no Brasil, temos diversas frentes que se criaram com o objetivo de organizar esse povo cristão, com diferentes ideologias políticas e religiosas.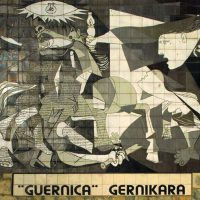

 Guilherme Prado Almeida de Souza é mestre em Ciências Humanas e Sociais pela UFABC.
Guilherme Prado Almeida de Souza é mestre em Ciências Humanas e Sociais pela UFABC.
