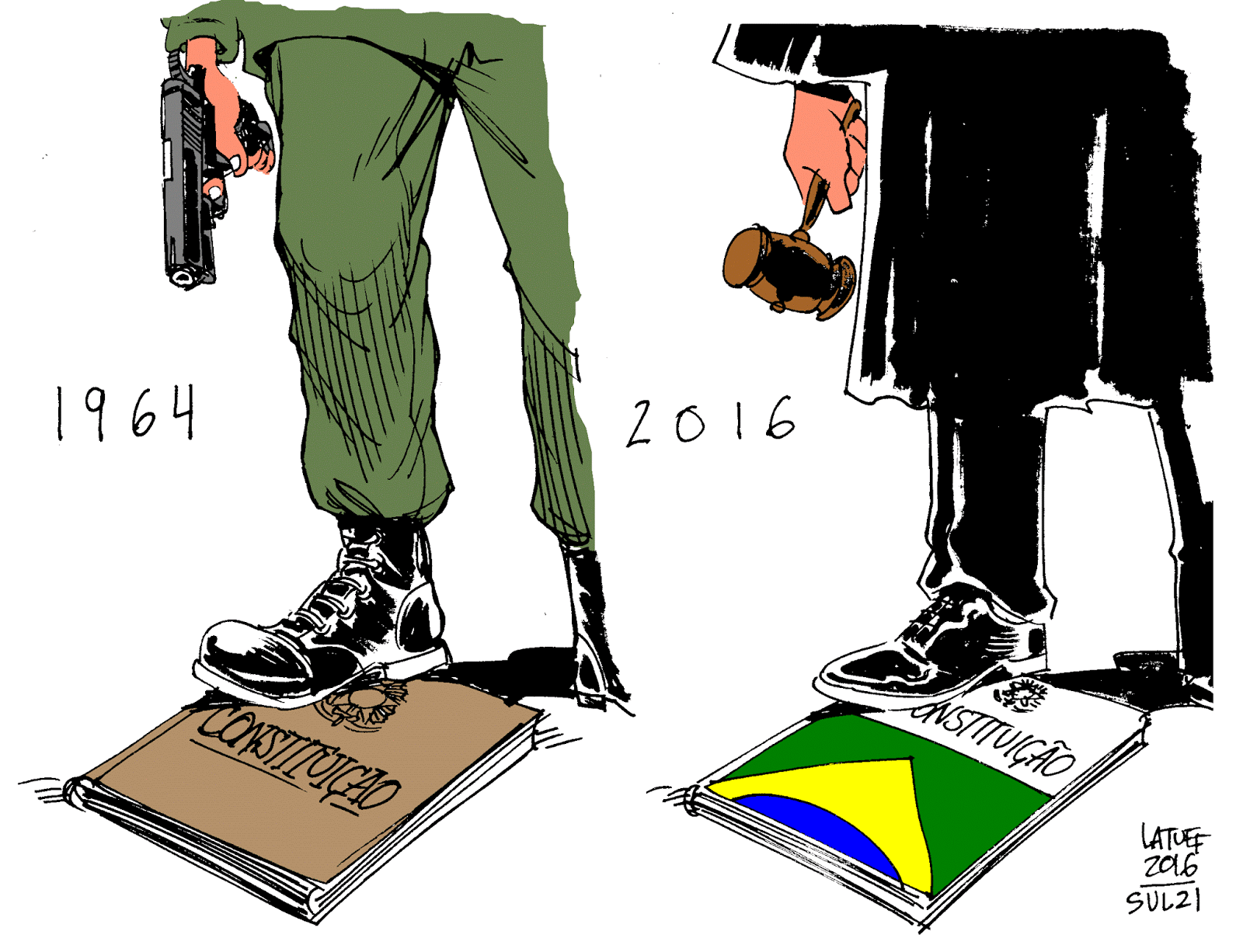Revolução portuguesa: uma revolução solitária
Por Valério Arcary
Já se disse que as revoluções tardias são as mais radicais. Seis anos depois do Maio de 68 francês, mas quatro anos antes que uma mobilização de massas se colocasse em movimento no Estado espanhol, a revolução dos cravos deslocou um regime ditatorial que estava no poder há quase meio século.
No 25 de Abril de 1974 ruiu a ditadura mais antiga do continente europeu. A rebelião militar organizada pelo MFA, uma conspiração dirigida pela oficialidade média das Forças Armadas que evoluiu, em poucos meses, de uma articulação corporativa para a insurreição, foi fulminante. Abatida militarmente por uma guerra sem fim, exausta politicamente pela ausência de base social interna, esgotada economicamente por uma pobreza que contrastava com o padrão europeu, e cansada culturalmente pelo atraso obscurantista que impôs durante décadas, poucas horas foram suficientes para uma rendição incondicional. Foi nesse momento que o processo revolucionário que comoveu Portugal se iniciou. A insurreição militar precipitou a revolução, e não o contrário.
O atual regime semipresidencialista em Portugal não deve ser confundido como herdeiro direto das liberdades e direitos sociais conquistados pela revolução nos seus intensos dezoito meses. O regime que mantém Portugal como o mais pobre país europeu é o resultado de um longo processo de reação das classes proprietárias e seus aliados nas classes médias proprietárias. A insurreição militar agigantou-se como uma revolução democrática, quando as massas populares saíram às ruas, que enterrou o salazarismo e foi vitoriosa. Mas a revolução social que nasceu do ventre da revolução política foi derrotada. Talvez surpreenda a caracterização de revolução social, mas toda revolução é uma luta em processo, uma disputa, uma aposta em que reina a incerteza. Na história não se pode explicar o que aconteceu considerando somente o desfecho. Isso é anacrônico. É uma ilusão de ótica do relógio da história. O fim de um processo não o explica. Na verdade, o contrário é mais verdadeiro. O futuro não decifra o passado. Revoluções não podem ser analisadas somente pelo desenlace final. Ou pelos seus resultados. Estes explicam, facilmente, mais sobre a contra-revolução, do que sobre a revolução.
As liberdades democráticas nasceram do ventre da revolução, quando tudo parecia possível. Mas o regime democrático semipresidencialista hoje existente em Portugal não surgiu do processo de lutas aberto no 25 de abril de 1974. Ele veio à luz depois de um auto-golpe da cúpula das Forças Armadas organizado pelo Grupo dos Nove em 25 de novembro de 1975. A reação triunfou depois das eleições presidenciais de 1976. Foi necessário recorrer aos métodos da contra-revolução em novembro de 1975 para restabelecer a ordem hierárquica nos quartéis e dissolver o MFA que fez o 25 de abril. É verdade que a reação com táticas democráticas dispensou uma quartelada com métodos genocidas, como tinha acontecido em Santiago do Chile em 1973. Não foi acidental, contudo, que o primeiro presidente eleito fosse Ramalho Eanes, o general do 25 de novembro.
A revolução portuguesa foi, portanto, muito mais do que o fim atrasado de uma ditadura obsoleta. Hoje sabemos que o capitalismo lusitano escapou à tempestade revolucionária. Sabemos que Portugal logrou construir um regime democrático razoavelmente estável, que a Lisboa dirigida pelos banqueiros e industriais sobreviveu à independência de suas colônias e, finalmente, se integrou na União Européia. Poderia, todavia, ter sido outro o resultado daqueles combates, com imensas conseqüências para a transição espanhola do final do franquismo.
O que a revolução conquistou em dezoito meses, a reação consumiu dezoito anos para destruir e, ainda assim, não conseguiu anular todas as conquistas sociais alcançadas pelos trabalhadores. Depois de ter incendiado durante um ano e meio as esperanças de uma geração de operários e jovens, a revolução portuguesa colidiu em obstáculos intransponíveis. A revolução portuguesa, a tardia, a democrática, teve o seu momento à deriva, descobriu-se perdida e terminou derrotada. Mas foi, desde o início, filha da revolução colonial africana e merece ser chamada pelo seu nome mais temido: revolução social.
Compreender o passado exige um esforço de reflexão do campo de possibilidades que estava desafiando os sujeitos sociais e políticos que atuavam projetando um futuro incerto. Em 1974, uma revolução socialista em Portugal poderia parecer improvável, difícil, arriscada, ou duvidosa, mas era uma das perspectivas, entre outras, que estava inserida no horizonte do processo. Já foi dito que revoluções são extraordinárias porque transformam o que parecia impossível em plausível, ou até provável. Ao longo de seus dezenove meses de surpresas, a revolução impossível, aquela que faz aceitável o que era inadmissível, provocou todas as cautelas, contrariou todas as certezas, surpreendeu todas as suspeitas. Esse mesmo povo português que suportou durante quase meio século a mais longa ditadura do continente – abatido, prostrado, até resignado – aprendeu em meses, encontrou em semanas e, em alguns momentos, descobriu em dias, aquilo que décadas de salazarismo não lhe tinham permitido sequer desconfiar: a dimensão de sua força. Mas, estavam sozinhos. Naquela estreita faixa de terra da Península Ibérica, o destino da revolução foi cruel. Os povos do Estado Espanhol só se colocaram em movimento na luta final contra o franquismo quando, em Lisboa, já era tarde demais. A portuguesa foi uma revolução solitária.
A vertigem do processo desafiou a solução bonapartista-presidencial de Spínola em três meses. Spínola foi derrotado com a queda de Palma Carlos da posição de primeiro-ministro e a nomeação de Vasco Gonçalves e, na seqüência, a convocação de eleições para a Constituinte antes das eleições presidenciais. Um ano depois do 25 de abril de 1974, a carta do golpe militar já tinha sido tentada por duas vezes, e por duas vezes esmagada. A contra-revolução precisou mudar a sua estratégia depois da segunda derrota de Spínola. Três legitimidades disputaram forças depois do 11 de março de 1975: a do Governo provisório sustentado pelo MFA, com o apoio do PC; a do resultado das urnas para a Constituinte eleita em 25 de abril de 1975, em que o PS se afirmou como a maior minoria, mas que poderia ser defendida como uma maioria, quando considerado o apoio dos partidos de centro-direita (PPD) e direita (CDS); e aquela que surgia da experiência de mobilização nas empresas, nas fábricas, nas universidades, nas ruas, a democracia direta da auto-organização.
Três legitimidades políticas, três blocos de classe e alianças sociais, três projetos estratégicos, enfim, uma sucessão de governos provisórios em uma situação revolucionária, com uma sociedade dividida em três campos: o do apoio ao governo do MFA, e duas oposições, uma de direita (com um pé no governo e outro fora, mas com importantes relações internacionais) e outra de esquerda (com um pé no MFA e outro fora, e uma devastadora dispersão de forças). Nenhum dos blocos políticos conseguia se afirmar por si só durante o verão quente de 1975. Foi então que a contra-revolução recorreu à mobilização de sua base social agrária no Norte, e algumas partes do centro do país. Mas, a reação clerical reacionária era ainda insuficiente. Portugal já não era o país agrário que Salazar tinha governado. Apelou, então, à divisão da classe trabalhadora, e para isso o PS de Mário Soares era indispensável. Recorreu à estratégia do alarme, do medo, do pânico para assustar e insuflar os setores da classe média proprietária contra a classe operária. Mas, acima de tudo, a questão prioritária para a burguesia, entre março e novembro de 1975, foi a recuperação do controle sobre as Forças Armadas.
A revolução tardia
Apesar de seus longos 48 anos, a queda do regime encabeçado por Marcelo Caetano foi, paradoxalmente, uma surpresa. Os governos de Londres, Paris ou Berlim sabiam que o pequeno país ibérico vivia há décadas uma situação anacrônica: ultimo Estado enterrado em uma guerra colonial em três frentes sem perspectiva de solução, um “Vietnam africano”, condenada até por resolução da ONU. A ditadura, já senil de tão decadente, ainda impunha um regime implacável na metrópole. Mantinha uma polícia de facínoras – a PIDE – que garantia as prisões repletas, e a oposição no exílio. Controlava através da censura qualquer opinião crítica ao governo, proibia as atividades sindicais, reprimia o direito de greve. No entanto, nem mesmo Washington, tinha previsto o perigo de uma revolução. A explicação histórica mais estrutural da estabilidade do regime salazarista remete à sobrevivência tardia de um imenso Império, formado no alvorecer da época moderna.
Em 28 de Maio de 1926 um golpe de Estado protofascista derruba a primeira república portuguesa, instalando uma ditadura militar liderada pelo general Gomes da Costa, sucedido pelo general Carmona. Os chefes militares convidam Antonio de Oliveira Salazar, até então um professor de economia em Coimbra, para ser ministro das Finanças, cargo que só assumirá em 1928, quando tinha 39 anos. Assumirá a posição de primeiro-ministro em 1932. Conhecido como Estado Novo, o regime não parecia excepcional nos anos trinta, quando o capitalismo europeu inclinou-se por um discurso nacionalista exaltado, e recorria em larga escala, mesmo em sociedades mais urbanizadas e, economicamente, mais desenvolvidas, aos métodos da contra-revolução para evitar revoluções sociais como o Outubro russo. A ditadura em Portugal espantaria, no entanto, pela sua longevidade.
O fascismo “defensivo” deste Império desproporcional e semi-autárquico sobreviverá a Salazar, permanecendo incríveis 48 anos no poder. A burguesia deste pequeno país resistirá à vaga de descolonização dos anos cinquenta por um quarto de século. Encontrará forças para enfrentar, a partir dos anos sessenta, uma guerra de guerrilhas em África, na Guiné-Bissau, Angola e Moçambique, mesmo se, na maior parte desses longos anos, mais uma guerra de movimentos, que uma guerra de posições, ainda assim, sem solução militar possível. Mas a guerra sem fim acabou destruindo a unidade das Forças Armadas. Quis a ironia da história que tenha sido o mesmo exército que deu origem à ditadura que destruiu a I República, que tenha derrubado o salazarismo para garantir o fim da guerra.
A reforma pelo alto, por deslocamentos internos do próprio salazarismo, a transição negociada, a democratização pactuada, tantas vezes esperada, não veio. Os deslocamentos da oficialidade média expressavam o desespero das classes médias com a obtusidade da ditadura. O obscurantismo sufocava a nação. Depois da insurreição militar abriu-se uma janela de oportunidade histórica, e o que as classes proprietárias evitaram fazer por reformas, as massas populares se lançaram à conquista pela revolução. O salazarismo obsoleto de Caetano acabou acendendo a faísca do mais profundo processo revolucionário na Europa Ocidental, depois da Guerra Civil Espanhola em 1939.
A revolução colonial
Em 1972, o general Antônio Spínola publicou o livro “Portugal e o Futuro”. O Governo de Marcelo Caetano autorizou a publicação do livro. O parecer favorável foi feito por ninguém menos que o general Costa Gomes.[1]A guerra nas colônias mergulhou Portugal em uma crise crônica. Um país de dez milhões habitantes, acentuadamente defasado da prosperidade européia dos anos sessenta, sangrando pela emigração da juventude que fugia do serviço militar e da pobreza, não podia continuar mantendo um exército de ocupação de dezenas de milhares de homens, indefinidamente, em uma guerra africana. O que não se sabia, então, era que o livro de Spínola era somente a ponta de um iceberg e que, clandestinamente, na oficialidade média, já estava se articulando o Movimento das Forças Armadas, o MFA. A fraqueza do governo Marcelo Caetano era tão grande que cairia como uma fruta podre, em horas. A nação estava exaurida pela guerra. Pela porta aberta pela revolução antiimperialista nas colônias, iria entrar a revolução política e social na metrópole.
O serviço militar obrigatório era de assombrosos quatro anos, dos quais pelo menos dois eram cumpridos no ultramar. Mais de dez mil mortos, sem contar os feridos e mutilados, na escala de dezenas de milhares. Foi do interior desse exército de alistamento obrigatório que surgiu um dos sujeitos políticos decisivos do processo revolucionário, o MFA. Respondendo à radicalização das classes médias da metrópole e, também, à pressão da classe trabalhadora na qual uma parcela dessa oficialidade média tinha sua origem de classe, cansados da guerra, e ansiosos por liberdades, rompiam com o regime.
Estas pressões sociais explicam, também, os limites políticos do próprio MFA, e ajudam a compreender porque, depois de derrubar Caetano, entregaram o poder a Spínola. O próprio Otelo, defensor, a partir do 11 de Março, do projeto de transformar o MFA em movimento de libertação nacional, à maneira de movimentos militares em países da periferia, como no Peru do início dos anos setenta, fez o balanço com uma franqueza desconcertante: “Este sentimento arraigado de subordinação à hierarquia, da necessidade de um chefe que, por cima de nós, nos orientasse no “bom” caminho, nos perseguiria até o final”. [2]
Esta confissão permanece uma das chaves de interpretação do que ficou conhecido como o PREC (processo revolucionário em curso), ou seja, os doze meses em que Vasco Gonçalves esteve à frente do II, III, IV e V governos provisórios. Ironicamente, assim como muitos capitães se inclinavam a depositar excessiva confiança nos generais, uma parcela da esquerda entregava aos capitães, ou à fórmula unidade do povo com o MFA, defendida pelo PCP, a liderança do processo.
Diz-se que, em situações revolucionárias, os seres humanos excedem-se ou se elevam, entregando-se na melhor medida de si próprios. Aparece, então, o que têm de melhor e pior. Spínola, enérgico e perspicaz, era um reacionário pomposo, com poses de general germanófilo, com seu incrível monóculo do século XIX. Costa Gomes, sutil e astuto, era, como um camaleão, um homem da oportunidade. Do MFA surgiram as lideranças de Salgueiro Maia ou Dinis de Almeida, valentes e honrados, mas sem educação política; de Otelo, o chefe do COPCON, uma personalidade entre um Chávez e um Capitão Lamarca, ou seja, entre o heroísmo da organização do levante, e o disparatado das posteriores relações com a Líbia e as FP-25 de abril; de Vasco Lourenço, de origem social popular, como Otelo, atrevido e arrogante, mas tortuoso; de Melo Antunes, instruído e sinuoso, o homem chave do grupo dos nove, o feiticeiro que termina prisioneiro de suas manipulações; de Varela Gomes, o homem da esquerda militar, discreto e digno; de Vasco Gonçalves, menos trágico que Allende, mas, também, menos bufão que Daniel Ortega. Foi da tropa, também, que surgiu o “Bonaparte”, Ramalho Eanes, sinistro, que enterrou o MFA.
A revolução democrática
A economia portuguesa, pouco internacionalizada, mas já razoavelmente industrializada, se estruturava na divisão internacional do trabalho em dois “nichos”, os dois pilares empresariais do regime, a exploração colonial e a atividade exportadora. Sete grandes grupos controlavam quase tudo. Ramificavam-se em 300 empresas que tinham 80% dos serviços bancários, 50% dos seguros, 8 das 10 maiores indústrias, 5 das 7 maiores exportadoras. Os monopólios comandavam, mas a dinâmica de crescimento era oscilante. O país permaneceu, comparativamente, estagnado, enquanto a economia européia vivia o boom do pós-guerra. Em Portugal, não houve alívio social. A superexploração do trabalho manual se manteve, agravada pelas seqüelas sociais da guerra colonial. A ordem salazarista se manteve depois da morte do ditador, com um implacável braço armado – a PIDE – 20.000 informantes, mais de dois mil agentes.
Não há, é certo, um sismógrafo de situações revolucionárias. Ainda na manhã dia 25 de Abril, ao ouvir pelo rádio a comunicação do levante militar do MFA, uma multidão de milhares de pessoas saiu ás ruas e se dirigiu à baixa de Lisboa, cercando o Quartel da GNR (Guarda Nacional Republicana) no Largo do Carmo, onde Marcelo Caetano se refugiara, e negociava com Salgueiro Maia os termos da rendição, exigindo a presença de Spínola. Algumas centenas de pides – Polícia Internacional de Defesa do Estado – entrincheirados na sede, disparam sobre a massa popular. No Porto, milhares de pessoas cercaram os policiais no edifício da Câmara, e estes responderam atirando sobre a população. E foi só isso a força da resistência. Deixaram quatro mortos.
Toda revolução tem o seu pitoresco. Nunca saberemos ao certo da veracidade maior ou menor dos pequenos episódios. Ma si non é vero, é bene trovato. Nas primeiras horas da manhã, quando uma coluna de carros militares descia a Avenida da Liberdade em direção ao Terreiro do Paço, as floristas do Parque Mayer lhes perguntam o que estava acontecendo, e os soldados respondem que vieram derrubar a ditadura. Elas, na sua simplicidade, de tão felizes, lhes oferecem cravos vermelhos e assim, sem o saber, batizaram a revolução com o nome de uma flor.
Recordemos que uma revolução não deve se confundir com o triunfo de um levante militar, mesmo quando se trata de uma insurreição com apoio popular. Não é incomum que golpes militares ou rebeliões de quartel funcionem, historicamente, como um sinal de que uma tormenta muito maior se aproxima. As operações palacianas podem “abrir uma janela” por onde irá entrar o vento da revolução que estava contido. Em Portugal, o processo da revolução política transbordou, como na Rússia de 1917, porque o exército tinha sido dilacerado pela guerra. Quando no primeiro de Maio de 1974 centenas de milhares de pessoas desfilaram durante horas até o estádio de Alvalade, carregando milhares de bandeiras vermelhas para recepcionar os que voltavam do exílio, e abraçar os que saíram das prisões, estavam marchando em direção aos seus sonhos de uma sociedade mais justa. Descobriam, surpresas, a força social de sua mobilização. É dessa experiência prática compartilhada por milhões que são feitas as revoluções sociais.
A última revolução
A revolução portuguesa foi a última revolução social na Europa Ocidental do final do século XX. Ainda que interrompida, a dinâmica de revolução social anticapitalista foi um dos seus traços chave. O conteúdo social do processo que veio no ano e meio que sucedeu o 25 de abril foi determinado em um contexto complexo: a revolução tinha tarefas pendentes – fim da guerra colonial, independência das colônias, reforma agrária, trabalho para todos, elevação dos salários, acesso à moradia, direito ao ensino público – que não se resumiam à derrubada da ditadura. O que determinou o seu vigor foi uma combinação de fatores sociais e políticos, mas o mais importante foi a entrada em cena da mobilização das classes populares com uma disposição de luta revolucionária que não podia ser contida pela repressão, e não a presença de um dos Partidos Comunistas mais poderosos da Europa. Ao contrário, a presença de um forte PCP foi um elemento de contenção da luta social.[3]
A queda do regime foi o ato inaugural de uma etapa política de radicalização popular incomparavelmente mais profunda – uma situação revolucionária – em que foram sendo construídas as experiências de auto-organização. No 1 de maio, uma semana depois da queda de Caetano, uma manifestação gigantesca em Lisboa, demonstra que uma irrupção de massas já começou. Comemora-se a libertação dos presos políticos, soltos em Caxias e Peniche, assim como no famigerado Tarrafal, em Cabo Verde. Álvaro Cunhal e Mário Soares chegam do exílio e, pela primeira vez, discursam. Soares faz exigência pública ao MFA e a Spínola, indicado presidente, defendendo que o PS e o PCP, nas suas palavras, os dois partidos mais representativos da classe operária, deveriam ser o núcleo do governo.
Já no 28 de abril, os moradores de barracas da Boavista em Lisboa ocuparam casas vazias de um bairro social – construções feitas pelo Estado – e se recusaram a sair, mesmo quando cercados pela polícia e por tropas, sob o comando do MFA, realizando a primeira ocupação. No dia 30 de abril, a primeira assembléia universitária de Lisboa reúne mais de 10.000 estudantes no Técnico, a faculdade de engenharia. No dia 2 de Maio é autorizado o regresso de todos os exilados. Desertores e refratários do Exército são anistiados. No dia 3 de Maio generaliza-se uma onda de ocupações de casas desocupadas na periferia de Lisboa, com forte iniciativa de militantes de várias organizações de extrema-esquerda. O embarque de uma unidade militar para África é impedido. Em 5 de Maio, trabalhadores dos TLP (telefônicos), Caixa de previdência de Faro, Hospital do Porto, reúnem-se para exigir a demissão das chefias. Em Évora, os trabalhadores transformam as Casas do Povo em sindicatos agrícolas. Uma vaga de greves começa, encabeçada pelas grandes concentrações operárias, como na Lisnave e na Siderúrgica Nacional, exigindo a reintegração dos demitidos, desde o início do ano, e salários. Trabalhadores do Diário de Notícias, o principal matutino, ocupam o Jornal, e impedem a entrada dos administradores, que são depois demitidos. Meia dúzia de exemplos que são apenas uma ilustração de que ainda antes de completar um mês do fim da ditadura, a revolução invadia todas as esferas da vida social e ocupava, além das ruas, as empresas, escolas, universidades, hospitais, oficinas, sindicatos, jornais, rádios, e até as casas.
Podemos periodizar o processo em três conjunturas: (a) de abril de 1974 até o 11 de março de 1975, abre-se uma situação revolucionária semelhante à do Fevereiro russo[4]: uma ampla frente social que une pequenas frações dissidentes da burguesia, exasperada com a inércia da ditadura, com a ampla maioria das classes médias urbanas, cansadas com o arcaísmo e obtusidade do regime, e as massas trabalhadoras, desesperadas pela guerra e pela pobreza. Nesses meses se garantiram as amplíssimas liberdades democráticas, inclusive nos locais de trabalho e o cessar-fogo em África, derrotando duas tentativas de quarteladas e o projeto de consolidação de um regime presidencialista forte. Predomina um forte sentimento de unidade entre os trabalhadores e a maioria dos setores médios, um apoio esmagador ao MFA, um sentimento a favor da unidade do PS e do PCP e contra Spínola. A sociedade gira vertiginosamente à esquerda; (b) entre o 11 de Março e Julho de 1975, uma situação revolucionária semelhante à que precedeu o Outubro russo: os de cima já não podem e os debaixo já não querem mais ser governados como antes. A fuga do país de uma parte considerável da burguesia, a nacionalização de parte das grandes empresas, o reconhecimento das independências – menos Angola – e a generalização de um processo de auto-organização de massas nos locais de trabalho, estudo e, sobretudo, nas Forças Armadas, mas sem que a dualidade de poder encontrasse uma via de centralização; (c) finalmente, a crise revolucionária, entre julho e novembro de 1975, com a cisão do MFA, a independência de Angola, a radicalização anticapitalista com rupturas de setores de massas da influência do PS e do PCP, a formação dos SUV (auto-organização de soldados e marinheiros) e manifestações armadas, ou seja, a ante-sala ou de um deslocamento revolucionário do Estado, ou um golpe contra-revolucionário. Um destes dois desenlaces se tornava inadiável.[5]
A contra-revolução
A primeira tentativa de golpe fracassa estrepitosamente em 28 de setembro, na forma de um chamado público de Spínola à “maioria silenciosa”, recurso retórico de um apelo à contra-ofensiva dos grotões mais reacionários de um Portugal rural profundo. No dia 26 de Setembro, Spínola compareceu a uma tourada no Campo Pequeno e foi ovacionado por uma parte do público, mas confrontos ocorreram entre militantes de esquerda e direitistas. Lisboa acordou coberta de cartazes convocando a passeata. No dia seguinte, ativistas do PCP e das variadas organizações da esquerda mais radical levantaram barricadas para impedir a passagem dos manifestantes de direita que, se esperava, viriam de fora. Soldados se uniram, espontaneamente, às barricadas. As sedes do Bandarra, do Partido Liberal e do Partido do Progresso foram invadidas – propaganda fascista encontrada – e saqueadas. No dia 28 de setembro, as barricadas ganharam mais participação, e carros foram parados e revistados, prendendo-se os ocupantes quando traziam armas. Otelo afirmou ter estado detido no Palácio de Belém por ordem de Spínola. Não houve adesão de massas ao chamado de Spínola. Cento e cinqüenta conspiradores foram presos durante o dia.
Obrigado a renunciar, mas ileso, Spínola entregou a presidência ao general Costa Gomes. Assume, então, o III Governo provisório, permanecendo Vasco Gonçalves como primeiro-ministro. As energias do projeto de neocolonialismo à “inglesa’ não tinham, todavia, se esgotado. Tentarão o putsch “korniloviano” de novo no 11 de março. Mais uma vez, as barricadas levaram muitos milhares às ruas. O segundo golpe foi a última e desesperada tentativa da fração burguesa que se opunha à independência imediata das colônias e contou com a participação da GNR (Guarda Nacional republicana). O RAL-1 (Regimento de Artilharia Ligeira) de Lisboa foi bombardeado e cercado por unidades de pára-quedistas, mas o golpe é desbaratado. Um episódio de negociação acontece, publicamente, diante das câmaras de televisão da RTP (!!!) e sintetiza toda a turbulência de uma quartelada improvisada e sem base sociais significativas.
Desde o 25 de abril, esta foi a terceira vez em que militares se enfrentaram. A primeira foi a crise que opôs a Coordenadora do MFA e Spínola, em busca de reforço da autoridade presidencial, e levou à queda de Palma Carlos e do I governo provisório. A segunda foi o no 28 de setembro quando Spínola ordenou a ocupação das estações de rádio. Nas duas primeiras nenhum tiro foi disparado. No 11 de março, o principal quartel de Lisboa foi bombardeado e cercado, e um soldado morre. Ninguém tem mais ilusões que grandes enfrentamentos estão no horizonte. A memória recente do golpe de Pinochet no Chile exerce uma forte pressão sobre a esquerda e sobre a oficialidade do MFA. Seguem-se dezenas de prisões, articuladas pelo COPCON: os comandantes operacionais da força que atacou o RAL-1, e várias lideranças burguesas tradicionais: vários Espírito Santo, um Champalimaud, e um Ribeiro da Cunha.
Spínola e outros oficiais comprometidos fogem para Espanha, onde Franco os recebe, e depois, muitos foram se refugiar no Brasil. Na seqüência, os trabalhadores bancários entram em greve política, e assumem o controle do sistema financeiro. O MFA cria o Conselho da Revolução, e decreta a nacionalização dos sete grupos bancários portugueses mais importantes. Muitas empresas são ocupadas pelos trabalhadores. A burguesia entra em pânico e começa a abandonar o país. Mansões desabitadas são ocupadas, e nelas serão instaladas creches.
A revolução à deriva
O IV governo provisório se instala em 26 de março.
África estava perdida. A burguesia passou a temer o pior, também, na metrópole. Reorientou-se, apressadamente, para o projeto europeu. A reconstrução da autoridade do Estado, a começar pelas Forças Armadas, ainda permanecia a prioridade. O mais complexo, contudo, continuava sem solução: tinha que improvisar uma representação política, atrair a maioria das classes médias, e derrotar os trabalhadores.
Não tendo mais Spínola como carta na manga – e debilitados o PPD e CDS pela ligação com Spínola – não tinha instrumentos diretos – a não ser parte da imprensa e o peso sobre a alta hierarquia das FFAA – e precisava recorrer à pressão da burguesia européia, e dos EUA, sobre a socialdemocracia e sobre a URSS, para que enquadrassem o PS e, sobretudo, o PCP.
Depois do 11 de março veio a segunda primavera das utopias. Lisboa era a capital mais livre do mundo. A grande massa do povo urbano, tanto em Lisboa – incluído o grande cinturão metropolitano que a rodeia – e no Porto como na maioria das cidades médias do centro e sul o país, os trabalhadores e a juventude, mas também as novas classes médias assalariadas no comércio e nos serviços exigiam a independência das colônias, o retorno dos soldados, as liberdades nas empresas, salários, trabalho, terra, educação, saúde, previdência. A experiência histórica colocava em movimento milhões de pessoas, até então, politicamente, inativas. Aprendiam quase instintivamente, no calor da luta, que eram a maioria e podiam vencer. Ainda existia, também, um outro Portugal, idoso, rural, atrasado, desconfiado da revolução, manipulado pela Igreja, e com base social nos minifúndios do norte. Mas eram muito minoritários. Nas cidades, sobretudo as industrializadas, o povo simpatizava com as nacionalizações. Concordava que sem limitações ao direito de propriedade – isto é, expropriações dos que tinham sustentado a ditadura – não poderiam conquistar as suas reivindicações. Começa a etapa do que foi denunciado pela ultradireita como “assembleísmo”, ou seja, a dualidade de poderes. As hierarquias seculares de autoridade política e social que se apoiavam em tradições culturais de medo e respeito desabaram. As massas invadiram os espaços sociais de suas vidas e estavam atrevidas. Queriam participar. Queriam decidir.
Em vagas de lutas sucessivas, surgiram comissões de trabalhadores em todas as grandes e médias empresas, como a CUF (Companhia União Fabril) – só ela, 186 fábricas – a maioria concentrada no Barreiro, cidade industrial do outro lado do Tejo. Champalimaud, um dos líderes mais influentes da burguesia reage declarando “os operários são atualmente demasiado livres”.[6]
O muralismo político – painéis à mexicana, grafites à americana, dazibaos à chinesa, e simples pichações – fazia das ruas de Lisboa uma expressão estético-cultural desse “universo diverso’ da revolução. Havia de tudo, do mais solene ao mais irreverente. À porta do cemitério o impagável Abaixo os mortos, a terra para quem nela trabalha. Nas grandes avenidas, o dramático, Nem mais um só soldado para as colônias. Na região das avenidas novas, “Os ricos que paguem a crise”, assinado pela UDP e, ao lado,“A UDP que pague a crise”, assinado “Os ricos”. Nas paredes da entrada da Faculdade de Letras, onde os trotskistas eram mais influentes, o cético: Os índios também eram vermelhos e se foderam.
A Igreja não escapou à fúria do processo revolucionário. Em Lisboa as Igrejas ficaram desertas de jovens. Associada durante décadas ao salazarismo – quando o Cardeal Cerejeira foi o braço direito do regime – estava desmoralizada no Sul do País, e desautorizada diante de amplos setores sociais. As ocupações se estendiam aos meios de comunicação. No dia 27 de maio os trabalhadores da Rádio Renascença ocupam os estúdios e o centro transmissor. É abandonada a designação de “Emissora Católica”. A emissora passa a transmitir uma programação de apoio ás lutas dos trabalhadores.
Os operários da Lisnave, então um dos grandes estaleiros do mundo, deram o exemplo organizando piquetes para ocupar o seu sindicato. Na Amadora, a Sorefame, uma das maiores indústrias metalúrgicas do país entra em greve, assim como a Toyota, a Firestone, a Renault, a Carris (motoristas de ônibus), a TAP e a CP (ferroviários), mas também pelo interior, como entre os têxteis da Covilhã, ou nas minas da Panasqueira. A onda de auto-organização – formação nas empresas de comissões de trabalhadores – que aprofunda a dinâmica revolucionária da situação, produz reações: “Os sindicalistas do PCP queixam-se amargurados: ‘Os grevistas fazem tábua rasa das formas tradicionais de luta, nem tentam negociar e por vezes decidem parar mesmo antes de redigirem o caderno reivindicativo. Em muitos casos, os trabalhadores não se limitam a exigir mais dinheiro, passam á ação direta, tentam tomar o poder de decisão e instituir a co-gestão sem estarem preparados para isso”. (Canais Rocha ao Diário de Lisboa, em 24/6/74). [7]
Ainda quando PCP apostava toda a sua imensa autoridade para freiar as greves, as invasões de latifúndios no Alentejo se generalizavam, ao mesmo tempo em que as ocupações de casas desabitadas em Lisboa e Porto se alastravam; saneamentos – o eufemismo para expulsão dos fascistas – realizavam depurações na maior parte das empresas, a começar pelo serviço público, e a pressão estudantil nas Universidades impunha assembléias deliberativas. Toda a antiga ordem parecia desabar:
A criação do salário-mínimo nacional abrange mais de 50% dos assalariados não agrícolas. São os trabalhadores menos qualificados, as mulheres, os mais oprimidos, que constituem a vanguarda da conquista do poder de compra e dos direitos sociais. O poder de compra dos assalariados aumenta 25,4% em 1974 e 75; os salários que, em 1974, já são 48% do rendimento nacional, passam a 56,9% em 1975. A estrutura da propriedade modifica-se: 117 empresas são nacionalizadas, 219 outras têm mais de 50% de participação do Estado, 206 são intervencionadas, abrangendo 55.000 operários; 700 empresas entram em auto-gestão, com 30.000 operário. [8]
Cada revolução tem o seu vocabulário. Como o pêndulo da política se inclinou para a extrema-esquerda, o discurso da direita girou para o centro, e o do centro para a esquerda. O travestismo político – o descompasso entre as palavras e os atos – faz o discurso dos partidos irreconhecível. Mas, em Portugal, as forças burguesas superaram o inimaginável. Desde o PPD de Sá Carneiro, hoje o PSD de Durão Barroso, até o PPM (Partido Popular Monárquico), todos reivindicavam alguma forma de socialismo, o que explica a linguagem socializante da Constituição que até hoje produz espanto.
A situação aberta pela queda de Spínola trazia maiores desafios, e mais perigosos. A burguesia exigia ordem e, sobretudo, respeito à propriedade privada. Diante das pressões, o PS e o PCP, as forças políticas de longe majoritárias, e as únicas com autoridade na direção dos Governos Provisórios – além do MFA – dividiram-se e provocaram uma cisão irremediável entre os trabalhadores. Um ano depois do 25 de abril, as eleições para a Constituinte surpreenderam. O PS foi o grande vencedor com espetaculares 37,87%. O PCP decepcionou com somente 12,53%. Revelou-se um abismo entre sua força de mobilização social e a eleitoral. O PPD (Partido Popular Democrático) de Sá Carneiro, um líder liberal dentro das estruturas do regime salazarista, fica em segundo lugar com 26,38%. O CDS (na extrema-direita, dirigido por Freitas do Amaral) o MDP (Movimento Democrático Português), uma colateral do PCP que vinha do tempo das eleições sob Caetano, e a UDP (União Democrático Popular), maoístas de inspiração “albanesa”, conseguiram, também, representação parlamentar.
A revolução derrotada
A presença de um partido comunista em governos europeus foi um tabu dos anos de guerra fria. Foi uma surpresa mundial quando Cunhal foi apresentado como ministro sem pasta no primeiro governo provisório liderado por Palma Carlos e Spínola. A estupefação foi ainda maior quando o PCP não somente permaneceu nos governos provisórios seguintes, como aumentou significativamente sua influência até a queda de Vasco Gonçalves em agosto de 1975.
A repercussão do papel do PCP continuou crescendo porque, a partir do V governo provisório, no verão quente de 1975, Cunhal foi acusado pelo Partido Socialista, dirigido por Mário Soares, de estar tramando um “golpe de Praga”, ou seja, uma insurreição para tomar o poder. Soares desafiou a hegemonia da mobilização de ruas que, até então, o PCP detinha, levando centenas de milhares às ruas contra Vasco Gonçalves e, apoiado pela hierarquia da Igreja, pela embaixada americana, e pelos governos europeus, estimulando a divisão do MFA que se expressou através do “grupo dos nove”.
Meses depois, quando o movimento militar dirigido por Ramalho Eanes, na madrugada de 25 de novembro de 1975, de fato, tomou pela força o poder – fazendo aquilo que denunciava que o PCP estaria preparando – Melo Antunes defendeu, inusitadamente, a participação do PCP na “estabilização democrática”, sublinhando, dramaticamente, que a democracia portuguesa seria impensável sem o PCP na legalidade, para deixar claro que o golpe não seria uma pinochetada, e que foi feito para evitar aquilo que, no calor daqueles dias, se interpretava como o perigo de uma guerra civil, e não para provocá-la. Admitiu, portanto, que o VI governo provisório e o Conselho da revolução estavam fazendo uma intervenção armada nos quartéis (um clássico autogolpe), mas alegou que era em legítima defesa, para manter a legalidade, não para subvertê-la.
A contra-revolução ensaiou o golpe bonapartista duas vezes com a direção de Spínola e fracassou. Recorreu, depois, a outros dirigentes e a outros métodos. Uma combinação de espada e concessões. Usou a espada, cuidadosa e seletivamente, no 25 de novembro. Usou os métodos da reação democrática com as eleições presidenciais de 1976, a negociação dos empréstimos de emergência que os Estados da NATO liberaram, e recorreu até à formação de um governo em vôo solo do Partido Socialista liderado por Mário Soares.
Depois de novembro de 1975, com a destruição da dualidade de poderes nas Forças Armadas o processo assumiu uma dinâmica lenta, contudo, irreversível, de estabilização de um regime democrático liberal. A derrota da revolução portuguesa não exigiu derramamento de sangue, mas consumiu muitos bilhões de marcos alemães e de francos franceses. A integração posterior na Comunidade Econômica com o acesso aos fundos estruturais, gigantescas transferências de capitais para modernizar a infra-estrutura, e construir um pacto social capaz de absorver as tensões sociais pós-salazaristas, permitiu a estabilização do capitalismo e do regime democrático nos anos 80 e 90.
[1] Marcelo Caetano, Depoimento, Rio de Janeiro, Record, 1974, p.194.
[2] CARVALHO, Otelo Saraiva de, Memórias de Abril, Los preparativos y el estallido de la revolución portuguesa vistos por su principal protagonista, Barcelona, Iniciativas Editoriales El Viejo Topo, s/data, p.163.
[3] VARELA, Raquel. A história do PCP na revolução dos cravos. Bertrand Editora, Lisboa 2011.
[4] A discussão dos tempos da revolução e dos critérios para aferição das relações sociais de força pode ser encontrada no meu livro As Esquinas Perigosas da História, São Paulo, Xamã, 2004.
[5] Lincoln Secco, A Revolução dos Cravos, São Paulo, Alameda, 2004, p.153.
[6] Champalimaud em declaração ao matutino Diário de Notícias, Lisboa, 25/6/74, citado em Francisco Louçã, 25 de abril, dez anos de lições, Ensaio para uma revolução, Lisboa, Cadernos Marxistas, 1984, p.36.
[7] Francisco Louçã, Ibidem, p.36
[8] Francisco Louçã, Ibidem, 35.



 A intervenção militar do Rio de Janeiro, em meio ao aprofundamento do golpe de 2016, reacende o medo de termos uma nova ditadura militar. Não é para menos. A reedição de uma tragédia pode ser ainda mais grave e trágica. Se nos fiarmos na célebre frase de Marx, em O 18 brumário de Luís Bonaparte, de que a história acontece da primeira vez como tragédia e a segunda como farsa, é essencial juntar esforços para que o replay não nos surpreenda.
A intervenção militar do Rio de Janeiro, em meio ao aprofundamento do golpe de 2016, reacende o medo de termos uma nova ditadura militar. Não é para menos. A reedição de uma tragédia pode ser ainda mais grave e trágica. Se nos fiarmos na célebre frase de Marx, em O 18 brumário de Luís Bonaparte, de que a história acontece da primeira vez como tragédia e a segunda como farsa, é essencial juntar esforços para que o replay não nos surpreenda.