NOTÍCIA
Vidas Secas é o quarto romance do alagoana Graciliano Ramos (1892-1953). Foi editado pela Jose Olympio em 1938. Sua 89a edição é de 2003 (Record).
Foi publicado nos seguintes países: Argentina (desde 1967), Polônia (desde 1950),Tcheco-eslováquia (desde 1959), Rússia (desde 1961), Itália (desde 1961), Portugal (desde 1962), Estados Unidos (desde 1963), Cuba (desde 1964), França (desde 1964),Alemanha (desde 1965), Romênia (desde 1966), Hungria (desde 1967) eBulgária (desde 1969).
Em 1962, Vidas Secas recebeu o Prêmio da Fundação William Faulkner (EUA) como livro representativo da Literatura Brasileira Contemporânea.1
Essa breve notícia dá uma idéia da importância de Vidas Secas para a literatura brasileira.
AUTOR
No posfácio à 89a edição (Record), Marilene Filinto escreve: “Graciliano Ramos é, a propósito, e com merecida justificativa, o romancista brasileiro que recebe de nossos mais importantes críticos literários a avaliação unânime de ter escrito obras-primas: Vidas Secas, para Bosi; São Bernardo, para Nelson Werneck Sodré; Angústia, para Otto Maria Carpeaux; todas essas e Infância, para Antonio Candido.”2
Há escritores que se notabilizam pela extraordinária unidade de sua obra, seja em termos estilísticos ou temáticos. São autores que, a rigor, buscam a perfeição em uma obra-prima que é perseguida livro após livro. É como se a sucessão de seus escritos não fosse senão o aperfeiçoamento de um mesmo livro.
Graciliano Ramos não pertence a essa plêiade. É inquieto, muda de estilo e de tema, surpreende a cada livro. Mas se lhe pode notar uma preocupação, um interesse especial, uma quase obsessão em perscrutar o mundo interior das personagens; o que, aliás, ele não regateia em confessar: “Tento saber o que eles têm por dentro”.3 Para Adonias Filho, Graciliano “é tão intransigente na revelação da personagem, nessa necessidade em apresentá-la em função da natureza humana, que obscurece o cenário”.4 Em Vidas Secas, no entanto, Antonio Cândido nota que “em lugar de contentar-se com o estudo do homem, Graciliano Ramos o relaciona aqui intimamente ao da paisagem”.5
Graciliano Ramos se inscreve na tradição do movimento modernista. Adonias Filho é enfático: “Graciliano Ramos trouxe a ficção nordestina para o círculo exato em que se move o romance moderno”.6 Ele procurou aproximar a língua escrita da falada, comprometido com uma “tradução” brasileira do português. “De fato”, comenta Godofredo de Oliveira Neto, “são por todos sobejamente conhecidas, além da nobreza e da parcimonia com que Graciliano faz uso do idioma, as preocupações do autor com o uso da língua portuguesa.”7
O traço intimista permeia a obra de Graciliano Ramos, a par da sua conhecida preocupação formal. Mas “a preocupação estilística e a sondagem psicológica – dados que levaram alguns críticos a aproximá-lo de Machado de Assis – não bastaram para ocultar a tendência visível, o interesse regional, o acentuado ruralismo”.8
Para ele, “a palavra não foi feita para enfeitar, brilhar como ouro falso; a palavra foi feita para dizer.”9 E ele escreve como um artesão, garimpando a palavra certa, a construção sintática exata. É um escritor que escreve pouco e detem-se demoradamente na cuidadosa composição ficcional, retomando o escrito, de tempos em tempos, para reescrevê-lo incansáveis vezes. E, assim, vai reelaborando o texto, refinando o estilo como expressão do tema. Talvez por isso seja um escritor de estilo tão variado e original; mas é, sobretudo, um escritor que diz o que tem de ser dito como deve ser dito.
VIDAS SECAS
“Depois de Vidas Secas”, escreveu Nelson Werneck Sodré a propósito de Graciliano, “a sua posição de primeiro plano deixou de ser objeto de discussão, havendo a tácita ou pública aceitação de um destaque merecido”.10
O livro se estende por 120 páginas estruturadas em 13 capítulos narrados na 3a pessoa. “É seu único romance escrito sob a objetividade da terceira pessoa”11, observa Marilene Felinto. Mas é narrado, em sua maior parte, no discurso indireto livre, confundindo e, por vezes, fundindo narrador e personagem.
Wilson Martins observou que “todos os livros de Graciliano Ramos terminam na desgraça irremediável, menos Vidas Secas, cujos personagens sabem tirar da maior desgraça o alimento para as suas esperanças”.12
Em Vidas Secas, Graciliano inova a estruturação do romance brasileiro. Os capítulos do livro constituem unidades autônomas – como contos ou crônicas relacionados, que podem ser lidos separadamente com sentido completo – cujo encadeamento faz parte da integração que o leitor der a elas.
“Ao contrário da composição cerrada de seus outros romances” – comenta Wilson Martins -, “Graciliano Ramos adotou neste a composição em quadros, e cada um desses quadros é um estudo psicológico. Há o estudo psicológico de Fabiano, o de Sinha Vitória, o dos meninos, o de Baleia, o do soldado amarelo. A paisagem comparece predominantemente no primeiro e no último capítulos, porque ‘Cadeia’, ‘Inverno’, ‘Festa’ e ‘O mundo coberto de penas’ são ainda estudos psicológicos”.13
O livro conta a aperreação de um cabra e sua família na aridez da caatinga. O cabra é Fabiano, um sem-terra. Sua família é a mulher (Sinha Vitória), os dois filhos (o menino mais velho e o menino mais novo) e a cachorra Baleia, que “era como uma pessoa da família”14. Sabe-se, logo no primeiro capítulo, que houvera também um papagaio “mudo e inútil”15 que fora sacrificado para matar a fome do grupo familiar flagelado pela seca.
“Ordinariamente a família falava pouco”.16 Fabiano, no mais das vezes, expressava-se por meio de “exclamações e onomatopéias”.17 De modo que o papagaio não teria mesmo muito o que imitar.
E, subjacente ao texto, a questão da linguagem coloca-se com toda contudência. Vidas Secas é, assim, em grande parte, a história da luta de Fabiano para sobrepujar a precariedade da sua fala e, por extenção, do seu pensar e entender.
BALEIA
 A personagem começou a ser construída antes do livro; na verdade, como um conto. O texto é de 1937. Faz parte de um conjunto de quatro histórias que Graciliano redigira pouco depois de sair do cárcere, e que foram publicadas em primeira mão por um jornal de Buenos Aires. Em carta a Heloísa, sua segunda mulher, o escritor revelava: “Escrevi um conto sobre a morte de uma cachorra”. E confessava: “um troço difícil”. Esclarecendo em seguida: “procurei advinhar o que se passa na alma duma cachorra”.18 Em 1938, esse conto foi transformado em capítulo de Vidas Secas – “uma pequena obra-prima de sobriedade formal”19, comentaria mais tarde o crítico Alfredo Bossi. E, em 1946, seria republicado como conto no livro Histórias Incompletas (Globo).
A personagem começou a ser construída antes do livro; na verdade, como um conto. O texto é de 1937. Faz parte de um conjunto de quatro histórias que Graciliano redigira pouco depois de sair do cárcere, e que foram publicadas em primeira mão por um jornal de Buenos Aires. Em carta a Heloísa, sua segunda mulher, o escritor revelava: “Escrevi um conto sobre a morte de uma cachorra”. E confessava: “um troço difícil”. Esclarecendo em seguida: “procurei advinhar o que se passa na alma duma cachorra”.18 Em 1938, esse conto foi transformado em capítulo de Vidas Secas – “uma pequena obra-prima de sobriedade formal”19, comentaria mais tarde o crítico Alfredo Bossi. E, em 1946, seria republicado como conto no livro Histórias Incompletas (Globo).
A cachorra Baleia dá nome ao 9o capítulo, que conta a sua execução por Fabiano. Mas está presente nos oito capítulos precedentes, e reaparece nos dois últimos como remorço. É uma personagem fundamental na tessitura do enredo, pois, como apontou Antonio Cândido, ela “vale sutilmente como vínculo entre a inconsciência da natureza e a frouxa consciência das pessoas”.20
“Evidentemente”, diz a narrativa, “os matutos como ele não passavam de cachorros”.21 Ou ainda: “Era um desgraçado, era como um cachorro, só recebia ossos”.22 E essa identificação era maior entre os meninos e a cachorra: “brincavam juntos os três, para bem dizer não se diferençavam”.23
Comparando Graciliano a Faulkner, Adonias Filho sublinha que “o instinto de humanização (…) hipertrofia-se de tal modo no romancista brasileiro que atinge animais e aves (o papagaio e a cachorra em Vidas Secas)”.24
MORTE
A morte da cachorra se abateu sobre a família como uma tragédia. Baleia estava doente. Fabiano desconfiou que ela estivesse com raiva e a executou. Sinha Vitória lamentou a morte, mas compreendeu as razões do marido. Os meninos a pressentiram e não a aceitaram. Baleia não a entendeu. Era fiel ao dono, ajudava-o no trabalho com a criação, era companheira de seus filhos, não podia esperar que Fabiano lhe fizesse mal. Mas, quando o cabra se aproximou com a espingarda de pederneira, a cadela achacada desconfiou. O instinto da cachorra não a enganara. Fabiano a alvejaria, acertando-lhe uma carga de chumbo nos quartos traseiros, inutilizando-lhe uma perna. “Ouvindo o tiro e os latidos, sinha Vitória pegou-se à Virgem Maria e os meninos rolaram na cama, chorando alto.”25
Desse ponto em diante, o foco da narrativa concentra-se em Baleia, com o autor tentando advinhar o sentimento da cachorra em seus extertores.
Sobre esse relato magistral, Augusto Frederico Schmidt deixou-nos esta passagem:
“Quando os que se julgam poderosos das letras nada mais forem, quando esses a quem ninguém ousa disputar honrarias, viagens e proventos não forem lembrados sequer, ainda se ouvirão na estrada os passos da família de Fabiano tangida pela seca, a Baleia continuará a morrer angustiada por não estar cumprindo o seu dever de vigiar cabras, naquela hora em que cheiros de suçuarana deviam andar pelas ribanceiras, a rondar as moitas afastadas”.26
FILME
Graciliano Ramos teve três de suas obras adaptadas para o cinema: Vidas Secas, de Nelson Pereira dos Santos, em 1963; São Bernardo, de Leon Hirszman, em 1972; e Memórias do Cárcere, também de Nelson Pereira dos Santos, em1983.
O filme Vidas Secas recebeu o Prêmio Cinema de Arte, o de Melhor Filme para a Juventude e o Prêmio Office Catolique de Cinemá, durante o XVII Festival Internacional de Cinema de Cannes.27
Nelson Pereira dos Santos, num Fórum na UERJ (gravado em vídeo), tece interessantes comentários sobre a realização do filme Vidas Secas.
Ele teve a preocupação de respeitar o pensamento de Graciliano Ramos, o projeto do livro, a sua estética, a filosofia e a ideologia do escritor.
Parece ter sido esse o seu intuito, por exemplo, no plano estético, ao contrariar os cânones, filmando com uma abertura máxima da câmara, numa exposição excessiva à luz, para denotar o sol cáustico do sertão.
Outra preocupação foi com a estrutura narrativa. Coloca-se aqui a difícil equivalência entre as linguagens literária e cinematográfica. O romance é narrado através de uma seqüência de capítulos que formam compartimentos estanques. Já o cinema narrativo requer uma sucessão de seqüências encadeadas, integradas, na qual cada seqüência invoca as anteriores e só adqüire sentido na sua linearidade contextual.
A caracterização de personagens e cenário é outra dificuldade. A linguagem literária é sugestiva, rica em adjetivos e metáforas, delegando ao leitor a tarefa de realizá-la em imagens mentais. A linguagem cinematográfica é mais restritiva, realiza-se sobretudo em imagens concretas. Se, na literatura, cabe ao leitor formalizar a caracterização que a escrita insinua, esboça subjetivamente, no cinema é o diretor que deve objetivá-la.
Nelson Pereira dos Santos lembra também que a adaptação para o cinema requer a busca da síntese, sem quebra da ordenação dramática, pois o tempo narrativo é outro: o filme deve ser empacotado em uma hora e meia de projeção contínua. Isso implica não apenas em cortes, mas também na fusão de episódios.
TEORIA CRÍTICA
Walter Benjamin, em seu ensaio A Obra de Arte na Era da sua Reprodutibilidade Técnica, aborda estes dois fatos culturais: a reprodução técnica da escrita (“conhecemos as gigantescas transformações provocadas pela imprensa”) e o cinema.
“Nas obras cinematográficas – diz ele -, a reprodutibilidade técnica do produto não é, como no caso da literatura ou da pintura, uma condição externa para sua difusão maciça.” Isso porque na literatura e na pintura tem-se uma obra individual, artesanal, de baixo custo; ao passo que a produção de um filme é um processo industrial, o que obriga a sua difusão maciça para cobrir os custos. A conseqüência é que a obra cinematográfica destina-se ao grande público, enquanto a obra literária – para ficarmos apenas na comparação que aqui mais nos interessa – pode se dar ao luxo de ser dirigida a um público restrito. Se nos fixarmos na dicotomia proposta por Benjamin, valor de cultoversus valor de exposição (categorias mutuamente exclusivas), para o cinema e aliteratura, teríamos a matriz:
| Literatura | Cinema | |
| Valor de exposição | – | + |
| Valor de culto | + | – |
Isso porque a exposição de uma obra de arte corrói a sua “aura”. E esse fato é saudado por Benjamin como um processo revolucionário de incorporação das massas à esfera cultural e artística.
Vistas as coisas de um ponto vista quantitativo, a argumentação de Benjamin é impecável. Com efeito, o cinema tem potencial para atingir um público bem mais amplo do que o da literatura. (No caso de Vidas Secas, eu não saberia dizer se esse potencial se realizou.)
Mas existem outros aspectos a ser ponderados. Por exemplo, o da permanência da obra de arte. Revendo, hoje, o filme, parece-me que, por razões técnicas, ele “envelheceu”, ao passo que o romance continua sendo vendido em novas reedições. Nesse sentido, o filme adquire uma “aura” que o romance não tem. E, aí, podemos comparar cinema de arte ecinema comercial:
| Cinema de arte | Cinema comercial | |
| Valor de exposição | – | + |
| Valor de culto | + | – |
Seria, então, o cinema de arte elitista (reacionário)? Essa questão se colocou, em seu tempo, para o cinema brasileiro, em razão da crise de público do Cinema Novo (aí incluído Vidas Secas).
Analisando a questão de um ponto-de-vista qualitativo, chega-se a outras conclusões. O cinema, devido aos custos da sua produção industrial, tende a ser comercial. Isso não representa uma incorporação das massas à esfera cultural e artística, mas sim “uma produção em série de bens culturais” por uma “indústria cultural” que reproduz a ideologia dominante e gera alienação. Esse é o ponto-de-vista de Adorno, que, afinal, parece consistente com a realidade.
NOTAS:
1 http://www.graciliano.com.br [www]
2 Filinto, Marilene, in Posfácio a Vidas Secas, 89o edição, Rio de Janeiro, Record, 2003, [MF], p. 130
3 Carta de Graciliano Ramos a sua segunda mulher, Heloísa, datada de 7 de maio de 1937 [Carta]
4 Adonias Filho, Volta a Gracliano Ramos, in posfácio a Insônia, Rio de Janeiro, Record, 1996, [AF], p. 166
5 Candido, Antonio, citado por MF, p. 131
6 AF, p. 164
7 Oliveira Neto, Godofredo de, in posfácio a S. Bernardo, Ed. revista, Rio de Janeiro, Record, 2003, [GO], p. 223
8 AF, p. 163
9 Ramos, Graciliano, Vidas Secas, 89o edição, Rio de Janeiro, Record, 2003, [VS], contracapa e www
10 Sodré, Nelson Werneck, in prefácio a Memórias do Cárcere, Rio de Janeiro, Record, 1996, [WS], p. 23
11 MF, p. 131
12 Martins, Wilson, Graciliano Ramos, O Cristo e O Grande Inquisidor in posfácio aCaetés, Record, 1996, [WM], p. 233
13 WM, p. 232
14 VS, p. 86
15 VS, p.12
16 VS, p. 12
17 VS, p. 20
18 Carta
19 Bosi, Alfredo, citado por MF, p. 130
20 Candido, Antonio, citado por MF, p. 131
21 VS, p. 79
22 VS, p. 97
23 VS, p. 86
24 AF, p. 167
25 VS, p. 88
26 Schmidt, Augusto Frederico, citado por WS, p. 23-24
2003
Sergio Granja é pesquisador da Fundação Lauro Campos
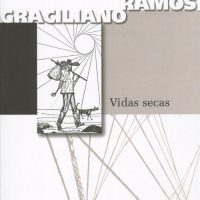



 O Marco Civil da Internet no
O Marco Civil da Internet no 
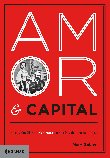
 É absolutamente inacreditável que a obra de Marx tenha sido escrita sob as condições em que foram, e com a morte de quatro de seus filhos, incluída uma menina e dois recém-nascidos. Sem dúvida Jenny foi fundamental para essa obra – que vai muito além da parte escrita, mas também a fundação do primeiro partido internacional, a I Internacional Comunista, participação em diversos processos revolucionários, as sementes de vários sindicatos e partidos nacionais, inúmeras lutas em meados do século XIX até mais do que seu quarto final. Marx foi na maior parte da vida um homem de ação, sempre um revolucionário.
É absolutamente inacreditável que a obra de Marx tenha sido escrita sob as condições em que foram, e com a morte de quatro de seus filhos, incluída uma menina e dois recém-nascidos. Sem dúvida Jenny foi fundamental para essa obra – que vai muito além da parte escrita, mas também a fundação do primeiro partido internacional, a I Internacional Comunista, participação em diversos processos revolucionários, as sementes de vários sindicatos e partidos nacionais, inúmeras lutas em meados do século XIX até mais do que seu quarto final. Marx foi na maior parte da vida um homem de ação, sempre um revolucionário.





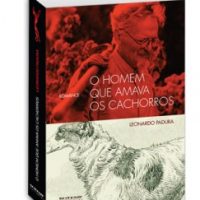
 Revoluções como a francesa e a bolchevique trariam o vírus da auto aniquilação de suas lideranças, essa é a tese subjacente ao romance O Homem que amava os cachorros, de Leonardo Padura (Editora Boitempo). Em seiscentas páginas, o autor vai desfibrando a última década de vida de dois homens: Trotsky e Juan Mercader. O segundo matou o primeiro com um golpe de picareta no crânio, em 1940, em Coyoacán, México. Ambos eram comunistas, mas Trotsky estava no exílio, por divergir de Stálin, e foi vítima deste. Mercader infiltrou-se entre os seguidores de Trotsky até ser recebido sem suspeitas na casa onde o exilado morava. Atacou-o no momento em que ele alimentava os coelhos.
Revoluções como a francesa e a bolchevique trariam o vírus da auto aniquilação de suas lideranças, essa é a tese subjacente ao romance O Homem que amava os cachorros, de Leonardo Padura (Editora Boitempo). Em seiscentas páginas, o autor vai desfibrando a última década de vida de dois homens: Trotsky e Juan Mercader. O segundo matou o primeiro com um golpe de picareta no crânio, em 1940, em Coyoacán, México. Ambos eram comunistas, mas Trotsky estava no exílio, por divergir de Stálin, e foi vítima deste. Mercader infiltrou-se entre os seguidores de Trotsky até ser recebido sem suspeitas na casa onde o exilado morava. Atacou-o no momento em que ele alimentava os coelhos.
