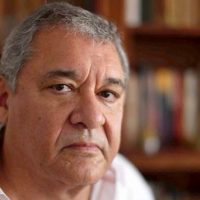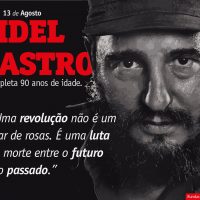Brexit, vitória de Trump, movimentos populistas na Europa: o Ocidente está protestando, à direita e à esquerda, contra as ortodoxias neoliberais e globalistas dos últimos 40 anos.
por Perry Anderson*
O termo “movimentos antissistêmicos” era comumente usado há 25 anos (1) para caracterizar forças de esquerda em revolta contra o capitalismo. Hoje, ainda que não tenha perdido relevância no Ocidente, seu significado mudou. Os movimentos de revolta que se multiplicaram ao longo da última década já não se rebelam contra o capitalismo, mas o neoliberalismo – fluxos financeiros desregulamentados, serviços privatizados e crescente desigualdade social, variante específica do reinado do capital estabelecido na Europa e na América desde os anos 80. A ordem econômica e política resultante foi aceita de maneira quase indistinguível por governos de centro-direita e centro-esquerda, de acordo com o princípio central de la pensée unique, a sentença de Margaret Thatcher de que “não há alternativa”. Dois tipos de movimento estão agora dispostos contra este sistema; a ordem estabelecida estigmatiza-os, à esquerda e à direita, com a ameaça do populismo.
Não é por acaso que esses movimentos surgiram primeiro na Europa que nos EUA. Sessenta anos depois do Tratado de Roma, a razão é clara. O mercado comum de 1957, resultado da comunidade do carvão e do aço do Plano Schuman – concebido tanto para evitar qualquer reversão de um século nas hostilidades franco-germânicas quanto para consolidar o crescimento econômico pós-guerra na Europa ocidental – foi o produto de um período de pleno emprego e aumento dos rendimentos populares, o enraizamento da democracia representativa e o desenvolvimento dos sistemas de bem-estar social. Seus arranjos comerciais incidiram pouco na soberania dos Estados-nação que o compunham, os quais foram fortalecidos ao invés de enfraquecidos. Os orçamentos e as taxas de câmbio foram determinados internamente, pelos parlamentos responsáveis perante os eleitores nacionais, nos quais políticas politicamente contrastantes foram vigorosamente debatidas. As tentativas da Comissão em Bruxelas de formar um grupo foram acentuadamente rejeitadas por Paris. Não só a França sob Charles de Gaulle, mas, na sua forma mais silenciosa, a Alemanha Ocidental sob Konrad Adenauer perseguiu políticas externas independentes dos EUA e capazes de desafiá-los.
O fim dos trinta anos gloriosos trouxe uma grande mudança nessa construção. A partir de meados da década de 1970, o mundo capitalista avançado entrou em uma longa desaceleração, analisada pelo historiador americano Robert Brenner (2): taxas de crescimento menores e aumentos mais lentos da produtividade, década a década, menos emprego e maior desigualdade, pontuadas por recessões acentuadas. A partir da década de 1980, começando no Reino Unido e nos EUA, e gradualmente se espalhando para a Europa, as direções políticas foram revertidas: os sistemas de assistência social foram reduzidos, as indústrias e serviços públicos foram privatizados e os mercados financeiros desregulamentados. O neoliberalismo havia chegado. Na Europa, isso veio ao longo do tempo para assumir uma forma institucional excepcionalmente rígida: o número de Estados membros daquilo que se tornou a União Europeia multiplicou-se por quatro, incorporando uma vasta zona de baixos salários do Leste europeu.
Austeridade draconiana
Da união monetária (1990) para o Pacto de Estabilidade (1997), depois o Ato do Mercado Único (1991), os poderes dos parlamentos nacionais são anulados numa estrutura supranacional de autoridade burocrática protegida da vontade popular, tal como o economista ultraliberal Friedrich Hayek profetizou. Com este mecanismo, a austeridade draconiana poderia ser imposta sobre os eleitores desamparados, sob a direção conjunta da Comissão e de uma Alemanha reunificada, agora o estado mais poderoso da União, onde os principais pensadores abertamente anunciam sua vocação para a hegemonia continental. Externamente, durante o mesmo período, a UE e seus membros deixaram de desempenharam qualquer papel significativo no mundo, em desacordo com as diretivas vindas dos EUA, fazendo com que o avanço das políticas da “neo-guerra fria” em relação à Rússia fosse estabelecido pelos EUA e pago pela Europa.
Assim, não é de surpreender que as castas cada vez mais oligárquicas da UE, desafiando a vontade popular em sucessivos referendos e incorporando diktats nas constituições, deveriam gerar muitos movimentos de protesto contra elas. Qual é o panorama dessas forças? No núcleo pré-ampliação da UE, a Europa ocidental da Guerre Fria (a topografia da Europa ocidental é tão diferente que se pode ser abandonada para propósitos presentes) , os movimentos de direita dominam a oposição ao sistema na França (Front National), na Holanda (Partido para a Liberdade, PVV), na Áustria (Partido Liberdade da Áustria), na Suécia (Democratas Suecos), na Dinamarca (Partido do Povo Dinamarquês), na Finlândia (Os Verdadeiros Finlandeses), na Alemanha (Alternativa para a Alemanha, AfD) e na Grã-Bretanha (UKIP).
Na Espanha, Grécia e Irlanda, movimentos de esquerda têm predominado: Podemos, Syriza e Sinn Fein. A exclusividade é a Itália que tem tanto um forte movimento antissistêmico de direita na Lega e um movimento ainda maior na divisão direita/esquerda do Movimento 5 Estrelas (M5S); sua retórica extra-parlamentar sobre impostos e imigração o coloca à direita, em contraste com sua atuação parlamentar à esquerda, de oposição consistente às medidas neoliberais do governo de Matteo Renzi (particularmente sobre educação e desregulamentação do mercado laboral), e seu papel central na derrota da tentativa de Renzi de enfraquecer a constituição democrática da Itália (3). A isso pode ser adicionado o Momentum, que emergiu na Grão-Bretanha por trás do inesperada eleição de Jeremy Corbyn para a direção do Labour Party. Todos os movimentos de direita, à exceção do AfD, precedem o crash de 2008; alguns têm histórias que remontam a década de 1970 ou datas mais antigas. A decolagem do Syriza e o nascimento do M5S, Podemos e Momentum são resultados diretos da crise financeira global.
O fato central é o maior peso global dos movimentos de direita em relação aos de esquerda, tanto em número de países onde eles chegaram ao governo quanto em força eleitoral. Ambos são reações à estrutura do sistema neoliberal, que encontra sua expressão mais marcante e mais concentrada na atual UE, com sua ordem fundada na redução e privatização dos serviços públicos; a revogação do controle democático e da representação; e desregulamentação dos fatores de produção. Todos os três elementos estão presente em nível nacional na Europa, como em qualquer outro lugar, mas são de um grau maior de intensidade no nível da UE, tal como atestam a tortura da Grécia, o atropelamento dos referendos e a escalada do tráfico humano. Na arena política, eles são as questões primordiais de interesse popular, dirigindo protestos contra o sistema em relação à austeridade, soberania e imigração. Os movimentos antissistêmicos são diferenciados pelo peso atribuído a cada um – a qual cor na paleta neoliberal eles direcionam a maior hostilidade.
Movimentos de direita predominam sobre os de esquerda porque desde cedo fizeram a questão imigratória um assunto de sua propriedade, apostando nas reações xenófobas e racistas para ganhar mais apoio entre os setores mais vulnerável da população. Com a exceção dos movimentos na Holanda e na Alemanha, que acreditam no liberalismo econômico, eles são tipicamente ligados (na França, Dinamarca, Suécia e Finlândia) não à denúncia, mas à defesa do estado de bem-estar social, ao mesmo tempo que reclamam que a chegada de imigrantes minam este estado. Mas seria errado atribuir toda sua vantagem a essa carta; em exemplos importantes – a Front National (FN) na França é o mais significativo – eles também têm uma vantagem sobre outras frentes.
A união monetária é o exemplo mais óbvia. A moeda única e o banco central, concebido em Maastricht, fizeram a imposição da austeridade e da negação da soberania popular num único sistem. Movimentos de esquerda deveriam atacar isso tão veementemente quanto qualquer movimento de direita, se não mais. Mas as soluções que eles propõem são menos radicais. À direita, a FN e a Lega possuem remédios claros para as tensões da moeda única e para a imigração: sair do euro e parar os fluxos migratórios. À esquerda, com exceções isoladas, nunca se fizeram exigências tão inequívocas. No máximo, os substitutos são ajustes técnicos na moeda única, complicados para ter maior apelo popular e vagas alusões embaraçosas às cotas; nem chega perto de ser tão inteligível para os eleitores como as proposições diretas da direita.
O desafio da crescente imigração
A imigração e a união monetária criaram dificuldades especiais para a esquerda por razões históricas. O tratado de Roma foi fundado sobre a promessa de livre movimentação de capitais, commodities e mão-de-obra dentro de um mercado comum europeu. Enquanto a Comunidade Europeia estava confinada aos países da Europa ocidental, os fatores de produção onde a mobilidade mais importava foram o capital e as commodities: a imigração pelas fronteiras dentro da comunidade era geralmente bastante modesta. Mas, no final da década de 1960, o trabalho imigrante de ex-colônias africanas, asiáticas e caribenhas, e de regiões semi-coloniais do ex-Império Otomano, já foi significativo em números. A extensão da UE para a Europa oriental aumentou então consideravelmente a imigração dentro do bloco. Finalmente, as aventuras neo-imperais nas ex-colônias mediterrâneas – a blitz militar na Líbia e a propaganda na guerra civil na Síria – levaram grandes ondas de refugiados para a Europa, juntamente com o terror de retaliação por parte de militantes da região onde o Ocidente permanece acampado como senhor supremo, som suas bases, bombardeiros e forças especiais.
Tudo isso acendeu a xenofobia: os movimentos anti-sistêmicos da direita se alimentaram dela, e os movimentos da esquerda a combateram, leais à causa de um internacionalismo humano. Os mesmos apegos subjacentes levaram a maioria da esquerda a resistir a qualquer pensamento de acabar com a união monetária, como uma regressão a um nacionalismo responsável pelas catástrofes passadas da Europa. O ideal da unidade europeia permanece para eles um valor cardinal. Mas a atual Europa de integração neoliberal é mais coerente do que qualquer uma das alternativas hesitantes que até agora propuseram. Austeridade, oligarquia e mobilidade dos fatores de produção formam um sistema interligado. A mobilidade dos fatores não pode ser separada da oligarquia: historicamente, nenhum eleitorado europeu foi consultado sobre a chegada ou a escalada do trabalho estrangeiro; isso sempre ocorreu por detrás de suas costas. A negação da democracia, que se tornou a estrutura da UE, excluiu desde o início qualquer posição na composição da sua população. A rejeição desta Europa por movimentos da direita é politicamente mais consistente do que a rejeição pela esquerda, outra razão para a vantagem da direita.
Níveis recordes de descontentamento dos eleitores
A chegada do M5S, Syriza, Podemos e AfD marcou um salto no descontentamento popular na Europa. As pesquisas agora registram níveis recordes de insatisfação com a UE. Mas, à direita ou à esquerda, o peso eleitoral dos movimentos anti-sistêmicos permanece limitado. Nas últimas eleições europeias, os três resultados mais bem sucedidos para a direita – UKIP, FN e Partido Popular Dinamarquês – foram cerca de 25% dos votos. Nas eleições nacionais, o valor médio na Europa Ocidental para todas as forças de direita e esquerda combinadas é de cerca de 15%. Essa percentagem do eleitorado representa pouca ameaça ao sistema; 25% pode representar uma dor de cabeça, mas o ‘perigo populista’ do alarme midiático permanece até hoje muito modesto. Os únicos casos em que um movimento anti-sistêmico chegou ao poder, ou parecia que poderia fazê-lo, são aqueles em que um deliberado super-ganho de assentos, através de um prêmio eleitoral destinado a favorecer o establishment, teve um efeito reverso; ou como na Grécia ou na Itália, esses movimentos arriscaram-se a participar desse jogo.
Na realidade, há uma grande diferença entre o grau de desilusão popular com a UE neoliberal do presente – no último verão, maiorias na França e na Espanha expressaram sua aversão a ela, e mesmo na Alemanha, apenas a metade dos questionados apresentam uma visão positiva sobre o bloco – e a extensão do apoio às forças que se posicionam contra ela. A indignação e o desgosto com o que se transformou a UE é comum, mas há algum tempo o determinante fundamental dos padrões eleitorais na Europa tem sido e continua a ser o medo. O status quo sócio-econômico é amplamente detestado. Mas é regularmente ratificado nos pleitos com a reeleição dos partidos responsáveis por essa situação, por temores de que perturbar o status e alarmar os mercados traria ainda mais miséria. A moeda comum não acelerou o crescimento na Europa e ingligiu graves dificuldades aos países do sul. Mas a perspectiva de uma saída aterroriza mesmo aqueles que sabem até agora o quanto eles sofreram com isso. O medo supera a raiva. Daí a aquiescência do eleitorado grego na capitulação do Syriza em Bruxelas, os reves do Podemos na Espanha, as dificuldades do Parti de Gauche na França. O sentido subjacente é o mesmo em todo lugar. O sistema está mal. Afrontá-lo é arriscar-se a uma represália.
O que, então, explica o Brexit? Imigração massiva é outro temor em toda a UE, e foi explorado no Reino Unido na campanha pelo Leave, no qual Nigel Farage foi um porta-voz e organizador hábil, juntamente com os proeminentes Conservadores. Mas a xenofobia por si só não é suficiente para compensar o medo de crise econômico. Na Inglaterra, como em toda a parte, a aversão aos imigrantes tem crescido à medida que governos sucessivos mentiram sobre as escalas da imigração. Mas se o referendo sobre a UE tivesse apenas sido uma disputa entre esses medos, como o establishment político pretendia que fosse, o Remain teria vencido indubitavelmente por uma margem considerável, como ocorreu em 2014 com o referendo sobre a independência escocesa.
Havia outros fatores. Depois de Maastricht, a classe política britânica recusou a camisa de força do euro, apenas para perseguir um neoliberalismo nativo mais drástico do que qualquer outro do continente: primeiramente, a arrogância financeirizada do New Labour, mergulhando a Inglaterra numa crise bancária antes de qualquer outro país europeu e, depois, um governo Liberal-Conservador com uma austeridade mais drástica do que qualquer outra gerada sem constrangimento externo da Europa. Economicamente, os resultados dessa combinação são peculiares. Nenhum outro país europeu ficou tão polarizado por regiões, entre uma metrópole cheia de bolhas e bolsões de alta renda em Londres e no sudeste, e um norte e nordeste desindustrializado e empobrecido onde os eleitores sentiram que tinham pouco a perder se optassem pelo Leave (crucialmente, uma perspectiva mais abstrata que abandonar o euro), seja lá o que acontesse com a City e os investimentos estrangeiros. O medo contou menos que o desespero.
Politicamente, também, nenhum outro país europeu tem tão flagrantemente manipulado um sistema eleitoral: UKIP foi o maior partido britânico individual em Estrasburgo sob representação proporcional em 2014, mas um ano depois, com 13% dos votos, ganhou apenas uma cadeira simples no Westminster, enquanto o Partido Nacional Escocês (SNP), com menos de 5% dos votos, ficou com 55 assentos. Sob os regimes intercambiáveis dos Trabalhistas e dos Conservadores, produzidos por esse sistema, os eleitores da base da pirâmide desertaram das urnas. Mas de repente concedida, uma vez, uma real escolha num referendo nacional, eles retornaramo com força para proferir seu veredito sobre as desolações de Tony Blair, Gordon Brown e David Cameron.
Finalmente, e de forma decisiva, veio a diferenção histórica separando o Reino Unido do continente. Por séculos, o país não foi somente um império que abteu qualquer rival europeu culturalmente, mas ao contrário da França, Alemanha, Itália ou a maioria do restante do continente, não sofreu derrota, invasão ou ocupação em qualquer guerra mundial. Logo, a expropriação dos poderes locais por uma burocracia na Bélgica causou mais atritos que em qualquer outro lugar: por que deveria uma estado que por duas vezes rejeitou o poder de Berlim se submeter a uma intromissão de Bruxelas ou Luxemburgo? Questões de identidade poderiam superar as questões de interesse mais facilmente que no resto da UE. Assim, a fórmula normal – medo de uma represália econômica supera o medo de uma imigração massiva – falhou, deformada por uma combinação de desespero econômico e amor-próprio nacional.
O pulo dos EUA no escuro
Essas eram também as condições nas quais um candidato presidencial dos Republicanos dos EUA de antecedentes e temperamento inéditos – abominável para opinião bipartidária mainstream, sem qualquer disposição de se conformar com códigos aceitos de conduta civil e política, odiados por muitos de seu atual eleitorado – poderia apelar para os suficientemente desconsiderados trabalhadores brancos do cinturão da ferrugem a fim de vencer a eleição. Como na Grã-Bretanha, o desespero superou a apreensão em regiões proletárias desindustrializadas. Aí também, muito mais crua e abertamente, num país com uma história mais profunda de racismo nativo, imigrantes foram denunciados e barreiras, físicas e processuais, foram demandadas. Sobretudo, o império não era uma memória distante do passado mas um atributo vívido do presente e uma reclamação natural ao futuro, mas tinha sido descartado por aqueles no poder em nome de uma globalização que significou ruína e humilhação para seu país. O slogan de Donald Trump foi “Fazer a América Grande Novamente” – próspero ao descartar os fetiches do livre movimento de mercadorias e de trabalho, e vitorioso em ignorar os obstáculos e as crenças do multiletarismo: ele não estava errado ao proclamar que seu triunfo foi um grande Brexit. Foi muito mais que uma revolta espetacular, uma vez que não ficou confinado a uma questão única (para a maioria do povo, simbólica), e esteva desprovida de qualquer respeitabilidade do establishment ou bênção editorial.
A vitória de Trump colocou a elite política europeia, centro-direita e centro-esquerda unidos, em uma consternação ultrajada. Quebrar as convenções estabelecidas sobre imigração é ruim o suficiente. A UE pode ter tido poucos escrúpulos na transferência de refugiados para a Turquia de Recep Tayep Erdogan, com suas dezenas de milhares de prisioneiros, tortura policial e suspensão do que se passa dentro do Estado Democrático de Direito; ou na colocação de arames farpados na fronteira norte da Grécia para manter os imigrantes trancados nas ilhas do Egeu. Mas a UE, respeitando seu decoro democraico, nunca glorificou suas exclusões. A falta de inibição de Trump nesses assuntos não afeta diretamente a UE. A sua rejeição à ideologia do livre trânsito de fatores de produção, seu aparentemente desrespeito desaberto pela OTAN e seus comentários sobre uma atitude menos beligerante com a Rússia são o que causa uma preocupação muito mais séria. Se qualquer um daqueles elementos é mais do que um gesto que logo será esquecido, como muitas das suas promessas domésticas, permanece algo a ser comprovado. Mas sua eleição cristalizou uma diferença significativa entre um número de movimentos antissistêmicos de direita ou de centro ambíguo e partidos da esquerda do establishment, rosa ou verde. Na França e Itália, movimentos de direita têm consistentemente se oposto às políticas de uma “nova guerra fria” e às aventuras militares aplaudidas pelos partidos de esquerda, incluindo a blitz na Líbia e as sanções à Rússia.
O referendo britânico e a eleição dos EUA foram convulsões antissistêmicos da direita, embora flanqueadas por surtos antissistêmicss de esquerda (o movimento de Bernie Sanders nos EUA e o fenômeno Corbyn no Reino Unido), menores em escala, quando não menos esperados. Quais serão as consequências de Trump ou do Brexit é algo que permanece indeterminado, embora sem dúvida mais limitado que predições correntes. A ordem estabelecida está longe de ser batida em qualquer país e, como a Grécia mostrou, é capaz de absolver e neutralizar revoltas de qualquer direção com velocidade impressionante. Entre os anticorpos já gerados estão os simulacros yuppie dos avanços populistas (Albert Rivera, Emmanuel Macron na França), atacando os bloqueios e corrupções do presente, e prometendo uma política mais limpa e mais dinâmica do futuro, para além dos partidos decadentes.
Para as movimentos antissistêmicos do esquerda em Europa, a lição dos anos recentes é clara. Se eles não quiserem ser ultrapassados pelos movimentos de direita, não podem ser menos radicais no ataque ao sistema e devem ser mais coerentes em sua oposição. Isso significa enfrentar a probabilidade da UE estar agora tão firmemente no caminho da dependência, enquanto uma construção neoliberal, que reformá-la não é algo mais seriamente concebível. Teria de ser desfeita antes que qualquer coisa melhor fosse construída, seja rompendo com a atual UE, seja reconstruindo a Europa em outros marcos, lançando Maastricht às chamas. A menos que haja uma crise econômica muito mais profunda, é pouco provável qualquer uma das alternativas.
* Perry Anderson leciona história na UCLA e publicou recentemente The H-Word: Peripetia of Hegemony, ed.Verso, Londres, 2017.
NOTAS
(1) Por Immanuel Wallerstein, Giovanni Arrighi e outros.
(2) Robert Brenner, The Economics of Global Turbulence: the Advanced Capitalist Economies from Long Boom to Long Downturn 1945-2005, Verso, New York, 2006.
(3) Raffaele Laudani, ‘Renzi’s fall and Di Battista’s rise’, Le Monde diplomatique, Edição Inglesa, January 2017.
Fonte: Le Monde Diplomatique Inglesa (https://mondediplo.com/2017/03/02brexit)
Tradução do original (em inglês) para o português: Charles Rosa – Observatório Internacional da Fundação Lauro Campos