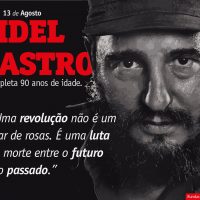por Juliano Medeiros*
O resultado das eleições municipais deste ano ensejou, nos últimos dias, diversas análises sobre os rumos da esquerda. De todos os lados, analistas buscam compreender as razões que levaram à acachapante vitória eleitoral dos partidos associados ao golpe que conduziu Michel Temer à Presidência da República. A ideia de que o terreno perdido nos últimos meses exigirá uma necessária reconfiguração das forças progressistas parece encontrar eco em muitas vozes. No entanto, a “reorganização da esquerda” pode ter distintos significados a depender de como se interpreta a derrota que o impeachment e as eleições municipais deste ano representaram.
Parece consenso que é chegada a hora de um profundo ajuste de contas na esquerda brasileira. O fim do ciclo do PT – que se anunciava desde junho de 2013 e se concretizou tragicamente com o impeachment de Dilma Rousseff – abriu um período de definições estratégicas para as forças populares. Um claro processo de reconfiguração da esquerda está em curso, dentro e fora das organizações tradicionais como partidos, sindicatos e entidades estudantis. No âmbito das organizações partidárias esse movimento é mais nítido. No PT, o movimento “Muda PT” representa para seus integrantes a derradeira batalha para salvar o simbolismo e a representatividade que o partido ainda detém entre parcela cada vez menor dos trabalhadores. Na Rede Sustentabilidade, as divisões internas chegaram a um limite insuportável, opondo lideranças de esquerda ao indecifrável projeto de Marina Silva. No PSOL, o crescimento do partido, que ocupou parte do espaço deixado pelo PT nas eleições municipais deste ano, exige definições sobre seu papel no novo ciclo que se abre para a esquerda brasileira. E até o pequeno e monolítico PSTU sofreu os efeitos da pressão em favor da reorganização: uma dissidência de centenas militantes deixou a legenda, rejeitando a tática do “fora todos” levada a cabo pelo partido durante o impeachment.
Mas esse processo de reconfiguração da esquerda não se resume aos partidos. Aliás, é possível afirmar que é precisamente fora da vida partidária que essa reconfiguração se processa de forma mais dinâmica. O esgotamento do ciclo do PT – que nada mais é que o esgotamento de uma tática que envolveu centenas de organizações políticas e sociais em favor do chamado “pacto de classes” – já se nota no âmbito dos movimentos sociais há algum tempo. O surgimento de novas lutas, sobretudo nas grandes cidades, novos ativismos e formas de intervenção política, expressam também um novo momento para a esquerda social. Movimentos como o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), Movimento Passe Livre (MPL), as ocupações de escolas em todo o país, o fortalecimento do movimento de mulheres contra o machismo e a violência, os novos movimentos de contracultura e o ativismo digital de coletivos como o Mídia Ninja, marcam o início de um novo ciclo na política brasileira. Isso não significa, é claro, que as formas “tradicionais” de organização política, como sindicatos, organizações de bairro ou entidades estudantis estão superadas. Significa apenas que esses instrumentos terão de ceder espaço a novas formas de ação política surgidas das transformações que o Brasil e o mundo vivenciaram nos últimos vinte anos, reinventando suas práticas e formas de organização para recuperar a legitimidade perdida.
O impeachment como fim de um ciclo
Afirmamos que o impeachment de Dilma marca o fim de um ciclo. Mas poderíamos ir além. Na verdade, o golpe que levou Michel Temer à presidência representa ao mesmo tempo o fim de dois ciclos. O primeiro é um ciclo mais geral da política brasileira, que começa com a Constituição de 1988. O golpe representa a ruptura do pacto que permitiu, ao longo de quase trinta anos, algum nível de estabilidade política e a garantia mínima da progressiva ampliação das políticas sociais. Mesmo no auge do neoliberalismo dos governos de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) direitos foram ampliados, apesar do retrocesso representado pela reforma do Estado promovida naquele período. Apesar de favorável às forças do conservadorismo, esse pacto permitiu o fortalecimento político e social do campo democrático-popular durante os anos 1990, a livre organização dos movimentos sociais e a vitória eleitoral da esquerda em 2002, mesmo que sob circunstâncias que se mostrariam fatais anos depois. Ao congelar os investimentos públicos por 20 anos, destruir o já insuficiente sistema que regulava a exploração do petróleo e retomar um agressivo ajuste no sistema de previdência, Temer implode o pacto que garantiu a estabilidade ao regime político brasileiro nas últimas duas décadas e encerra o clico instituído pela Constituição de 1988, abrindo um período de luta aberta pelos rumos do Estado.
Por outro lado, na esquerda também se encerra um ciclo. A hegemonia do PT e do bloco histórico que o sustentou desde os anos 1980 chegou definitivamente ao fim. O historiador Lincoln Secco, em livro sobre a história do PT,1 afirma que o partido viveu três momentos em sua história. O primeiro foi marcado por um partido radical que liderava a oposição social à ditadura militar. O segundo momento é aquele em que o PT se consolida como oposição parlamentar ao neoliberalismo, quando o partido se institucionaliza e passa a viver a experiência de governar importantes municípios. O terceiro momento, que se inicia com a vitória de Lula em 2002, é aquele caracterizado pela ascensão do PT à condição de “partido de governo”. Nessa terceira e última etapa do processo de aggiornamento2 do partido à dinâmica do sistema político brasileiro, o PT incorpora plenamente a estratégia do pacto de classes, isto é, de uma aliança reformista assentada no crescimento econômico com distribuição de “dividendos” para todas as classes. Com o processo de impeachment e a implosão do pacto que o PT mantinha com diferentes frações da burguesia brasileira, o partido e seu campo de aliados tende a perder definitivamente a hegemonia sobre a esquerda brasileira. É o fim desse outro ciclo que exige definições urgentes sobre os rumos da reorganização das forças populares.
Três tarefas urgentes para a reorganização da esquerda no Brasil
Nossa situação política é inédita. Diferente de outros momentos da história, quando a esquerda foi coagida fisicamente pelas forças do conservadorismo e da reação, o que vemos hoje é um processo de “demonização” das organizações de esquerda que alcançou níveis inéditos desde a redemocratização. Combinando o desgaste promovido pela crise econômica e seus efeitos sobre os mais pobres com as denúncias de corrupção envolvendo altos dirigentes do governo e do PT, a mídia monopolista construiu com relativo sucesso uma associação quase automática entre “esquerda” e “corrupção/ineficiência”. Os partidos que compuseram o governo, como PT e PCdoB, sentiram mais fortemente os efeitos dessa narrativa no recente processo eleitoral. Mas ela não poupou nem aqueles partidos que jamais mantiveram qualquer envolvimento com atos de corrupção e nunca compuseram o governo Dilma, como o PSOL. A luta que se trava em torno das responsabilidades sobre a recessão econômica e a corrupção atingiu em cheio a esquerda.
Quais seriam, então, as tarefas para contornar essa situação? Evidentemente, não há um “manual de reorganização da esquerda brasileira”. Mas há alguns elementos indispensáveis para enfrentar esse gigantesco desafio, que podemos sintetizar no tripé balanço / renovação programática / promessa. Vejamos como se apresentam cada uma dessas tarefas:
a) Balanço:A mais urgente das tarefas para a reorganização da esquerda brasileira refere-se ao balanço da experiência dos governos petistas. Por mais de uma década, a esquerda brasileira se dividiu entre aqueles que apoiavam ou não o projeto liderado por Lula e Dilma. Por vezes, essa divisão tomava formas absurdas, onde uns se tornavam incapazes de ver os flagrantes limites dos governos de conciliação, enquanto outros fechavam os olhos para os inegáveis avanços que foram promovidos na expansão de alguns direitos sociais. Com o fim do ciclo do PT à frente do governo federal, torna-se possível desenvolver um balanço crítico e honesto dos avanços e limites que os governos petistas produziram. Exemplos não faltarão. Se por um lado é evidente que o crescimento econômico de quase uma década proporcionou uma melhoria nas condições de vida de parte expressiva da população mais pobre, com acesso a crédito, aumento real do salário mínimo e mais políticas sociais, por outro, não se pode esconder que a natureza do projeto de conciliação de classes não permitiu avanços mais profundos, manteve o país vulnerável à dinâmica do capital financeiro, fortaleceu o agronegócio predatório e deixou intocado o controle da informação nas mãos da mídia monopolista. Além disso, o mito conservador da “governabilidade” se impôs de tal forma sobre as iniciativas de participação direta da população sobre a política, favorecendo o fisiologismo e as alianças pragmáticas, que muitos terão dificuldades em admitir que o governo foi enredado em acordos que jamais deveria ter firmado. Por isso um balanço crítico e desapaixonado é indispensável para extrair as lições dos limites da conciliação de classes. Sem isso será impossível pensar um novo projeto político independente e comprometido com os interesses populares.
b) Renovação programática:O bloco histórico surgido com o PT na luta contra a ditadura militar representou uma grande novidade na cena política brasileira. Aquela esquerda, renovada pelos novos atores políticos que entraram em cena no final dos anos 1970, construiu um programa ao mesmo tempo radical e inovador para enfrentar os séculos de atraso e exploração que marcavam nossa formação social. Ele estava muito à frente do reformismo que caracterizava, já naquela época, os partidos comunistas no Brasil. O chamado “Programa Democrático-Popular”, aprovado no 5º Encontro Nacional do PT, em 1987, reunia um conjunto de tarefas anti-monopolistas, anti-imperialistas e anti-latifundiárias que conferiam à estratégia do partido um caráter profundamente anti-capitalista e radicalmente democrático. Esse programa, rompendo com a tradição que fora hegemônica na esquerda até então, apresentava uma nova interpretação do estágio de desenvolvimento do capitalismo no Brasil e preconizava uma tática de fortalecimento das organizações de base do campo popular, rechaçando a conciliação de classes em favor da independência política dos trabalhadores e trabalhadoras. O abandono desse programa por parte do PT e sua relativa desatualização deixaram a esquerda brasileira, no século XXI, com um enorme “déficit programático”. Ao mesmo tempo em que foram incorporadas novas demandas à agenda política da esquerda nos últimos anos, especialmente no campo dos direitos civis, pouco se avançou na correta interpretação das mudanças que o Brasil viveu durante as últimas três décadas. A consolidação do processo de urbanização do capital e suas contradições trouxeram novas formas de dominação política e econômica que ainda precisam ser incorporadas à análise da esquerda. Essa renovação programática – econômica, política, social, cultural, ideológica – é uma condição indispensável para “reconectar” a esquerda ao Brasil real.
c) Promessa: Os efeitos da derrocada do PT terão efeitos de longo prazo. Uma geração inteira de militantes, desiludida com as inaceitáveis concessões feitas pelo partido ao longo de quase catorze anos, já não acredita que outro instrumento partidário possa responder à tarefa histórica de liderar a reorganização da esquerda brasileira. Isso é natural. A decepção é profunda, tanto quanto a indignação pelos erros cometidos – em especial em relação à corrupção e à retirada de direitos dos mais pobres, marca do último ano de governo Dilma. Por isso, além de realizar um balanço crítico da experiência petista no governo federal e promover uma profunda atualização programática, a esquerda deverá lançar mão de uma promessa: a de que é possível construir um caminho diferente no futuro. Numa de suas principais obras,3 Hannah Arendt afirma que é a promessa que valida o perdão; isto é, apenas o compromisso de que algo novo está sendo construído no lugar do velho é que permite expiar os pecados do passado. Mesmo aqueles que nada tiveram a ver com os erros cometidos terão de consignar seu compromisso com a promessa de que nada será como antes. O perdão, que exime a esquerda das consequências dos erros cometidos, só pode ser validado pela promessa do novo. E esse novo que é reclamado pela nova geração de lutadores e lutadoras que está nas ruas não pode ser nada menos que uma esquerda horizontal, pluralista, radicalmente democrática e profundamente comprometida com os interesses dos explorados e oprimidos. Uma esquerda anticapitalista, socialista e classista, mas também feminista, negra, jovem, disposta a combater qualquer tipo de opressão. Perdão e promessa: eis o binômio do qual a reorganização da esquerda não pode fugir.
Os atores da reorganização
Consideramos que as tarefas que mencionamos – balanço / renovação programática / afirmação do novo – não poderão ser bem-sucedidas sem atores dispostos a encará-las como indispensáveis à reorganização da esquerda brasileira. Para isso será necessário um amplo processo de diálogo entre aqueles dispostos a enfrentar o momento de defensiva estratégica que os setores populares vivem e dar um novo sentido à luta em favor de um amplo instrumento político que unifique os que lutam contra a opressão e a exploração.
Mesmo que os efeitos da ofensiva conservadora tenham sido devastadores, há diversos atores discutindo os rumos da reorganização da esquerda brasileira. No PT e na Rede Sustentabilidade há setores dispostos a debater a construção de uma nova síntese política “pós-PT”. Outras organizações políticas não partidárias também iniciam essa discussão. No âmbito dos movimentos sociais, novos atores já se apresentam como expressão concreta de um novo ciclo político que rechaça como limitadas as promessas do lulismo.4 Há ainda uma grande quantidade de intelectuais críticos que reivindicam uma profunda reflexão sobre os rumos do campo popular e democrático no Brasil, em favor de uma “nova esquerda” que se apresente como tal já a partir das eleições presidenciais de 2018. No meio desse turbilhão está o PSOL.
O PSOL é hoje o polo mais dinâmico da reorganização da esquerda brasileira e o partido mais bem localizado politicamente para enfrentar esse desafio. Isso se deve a algumas razões específicas que garantem a ele uma posição privilegiada nesse processo. O primeiro e mais evidente é o fato do partido ter mantido, ao longo de seus onze anos de vida institucional, uma profunda crítica à estratégia de conciliação de classes levada a cabo pelo PT. Por essa razão o PSOL é visto como um partido coerente, capaz de arcar com as pesadas consequências de ser oposição de esquerda aos governos petistas para conservar suas posições. Além disso, a tática que o partido assumiu durante o impeachment, quando sua militância e suas figuras públicas se engajaram plenamente na luta contra o golpe, permitiu ao PSOL conectar-se com o mais importante movimento de massas ocorrido no país desde junho de 2013. Para os milhares de lutadores e lutadoras que tomaram as ruas contra o golpe, o PSOL foi visto como um partido capaz de deixar as diferenças de lado para unir forças em favor de um objetivo maior: a defesa da democracia. Por fim, vivendo toda a sua existência fora da dinâmica do Estado, o partido compreende melhor os novos atores sociais que emergiram na última década. Esses lutadores e lutadoras têm uma forte empatia com o partido e muitos concorreram pelo PSOL nas eleições deste ano. Portanto, se o partido tiver a sabedoria política necessária para se colocar à altura do momento histórico, ele pode se tornar a expressão “natural” de uma nova síntese política para essa nova esquerda que está se formando no Brasil. Mas para isso, será necessário responder às inadiáveis tarefas que mencionamos neste ensaio.
* Presidente da Fundação Lauro Campos e membro da Executiva Nacional do PSOL.
1 Lincoln Secco. História do PT – 1978-2010. Cotia: Ateliê Editorial, 2011.
2 Termo em italiano que signfica atualização ou adaptação.
3 Hannah Arendt. A condição humana. Rio de Janeiro: Editora Forense Universitária, 2000.
4 Para saber mais sobre o lulismo como expressão da política de pacto de classes nos governos petistas ver André Singer. Os sentidos do lulismo: reforma gradual e pacto conservador. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.