A entrega da Embraer.
.e a rota do eterno atraso.
Texto de Demétrio G. C. de Toledo*
A empresa brasileira parece seguir o destino de Ícaro, ao voar muito perto do sol. Com meio século de êxito nas modalidades de jatos regionais, aviões de treinamento e, futuramente, cargueiros aéreos, a Embraer concorre em mercados inéditos para empresas do Sul do mundo. A venda para a Boeing não se resume à mera transação comercial, mas à alienação de pesquisas de longo curso, tecnologia de ponta e conhecimento acumulado. Um governo sério trataria a questão como caso de segurança nacional.
Na manhã do dia 5 de julho de 2018, espremida entre a celebração da independência dos EUA, na véspera, e o jogo no dia seguinte – da seleção canarinho contra a Bélgica pelas quartas de final da Copa da Rússia – embate que o Brasil acabaria perdendo por 2 a 1, foi divulgado o memorando de entendimento – em inglês, memorandum of understanding, ou MoU – entre a Boeing e a Embraer para venda da empresa brasileira à gigante estadunidense.
O MoU adianta a intenção da Boeing de adquirir 80% da aviação comercial da Embraer por meio da formação de uma joint venture entre as empresas, com possibilidade de compra dos restantes 20% em um prazo de dez anos. A isso se soma a aquisição parcial do setor de aviação militar por meio de outra joint venture dedicada à comercialização do cargueiro militar KC-390.
Estamos assistindo, sete décadas depois da fundação do Centro Técnico de Aeronáutica, semente do setor, e quatro anos antes de o Brasil completar dois séculos de sua independência, ao fim do capítulo aeronáutico de nossa luta por um desenvolvimento industrial tecnológico autônomo
Estamos assistindo, sete décadas depois da fundação do Centro Técnico de Aeronáutica, semente do setor aeronáutico brasileiro, e magros quatro anos antes de o Brasil completar dois séculos de sua independência, ao fim do capítulo aeronáutico de nossa história de luta por um desenvolvimento industrial tecnológico autônomo.
1. Autonomia tecnológica, desenvolvimento e soberania
A tecnologia ocupa lugar central no modo de produção capitalista. Sua centralidade deriva não apenas de sua função nos processos de acumulação e extração de mais-valia, como também do fato de a tecnologia ser desigualmente distribuída entre os países. As relações de dominação e dependência entre Estados são definidas pelo acesso desigual à tecnologia, que conforma uma estrutura de centro e periferia no sistema internacional, atribuindo a alguns países o papel de produtores de bens de alta intensidade tecnológica e a outros o papel de produtores de commodities.
Essa desigualdade, por sua vez, é mantida por meio das inúmeras formas de monopólio tecnológico que restringem o acesso da periferia às tecnologias mais avançadas ou estratégicas. Mantém-se aí uma condição de dependência tecnológica em relação aos países centrais. É por isso que o desafio central do desenvolvimento das nações da periferia do capitalismo consiste em quebrar o monopólio tecnológico dos países centrais e dominar um conjunto amplo de tecnologias. É a maneira de garantir sua autonomia tecnológica e sua soberania política.
Foi justamente isso que o Brasil conseguiu fazer na indústria aeronáutica: quebrar o monopólio tecnológico dos países centrais. Com a compra da Embraer pela Boeing, os EUA tentam restabelecer esse monopólio. É o que está em jogo nesse momento.
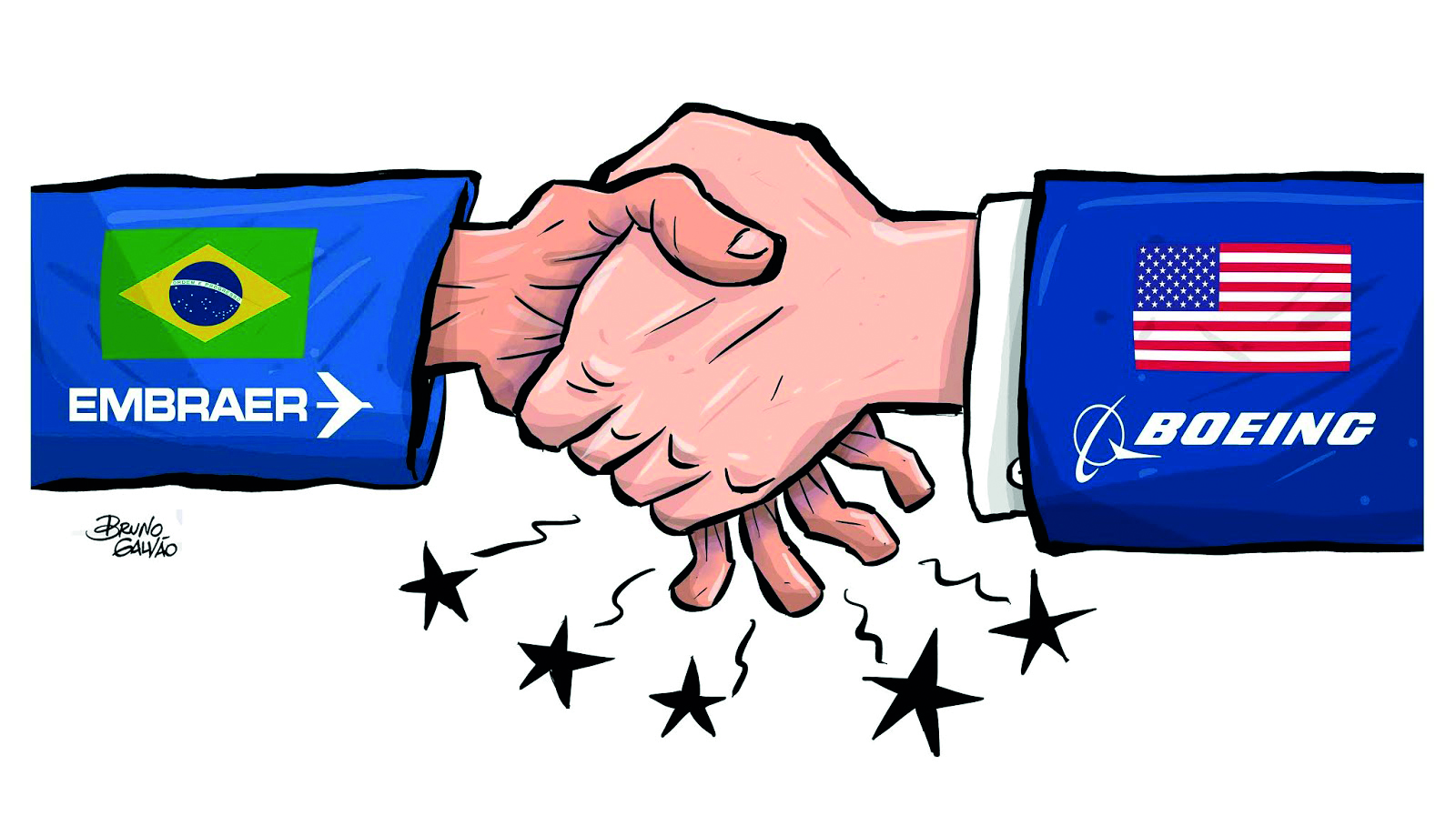
2. A entrega da Embraer: escolha entre perder ou perder?
O setor de aviação comercial passa nesse momento por uma de suas mais profundas reestruturações desde o processo de fusões e aquisições da década de 1990. Dos anos 2000 para cá, o setor se estruturou em torno de um duplo duopólio: Boeing e Airbus, competindo nos mercados de aviões com capacidade de 150 ou mais passageiros; e Embraer e Bombardier, competindo nos mercados de aviões com capacidade de até 150 passageiros.
O principal argumento apresentado para defender a entrega da Embraer à Boeing faz menção à recente aquisição do projeto dos jatos regionais CSeries, da canadense Bombardier, pela europeia Airbus, e o impacto que essa mudança na estrutura do setor aeronáutico mundial poderá ter sobre a competitividade e sobrevivência da brasileira a longo prazo. Segundo esse argumento, a aquisição da Bombardier – que no último quarto de século perdeu sistematicamente para a Embraer a competição no mercado de jatos regionais – pela potente Airbus acirraria de tal modo a competição com a Embraer que a inviabilizaria em alguns anos.
A justificativa para a entrega resume-se, portanto, à seguinte disjuntiva paradoxal: perder ou perder – perder a Embraer agora ou perder a Embraer em alguns anos. Esse argumento está correto? Haveria alternativa? Claro que sim.
A aquisição da Bombardier pela Airbus de fato muda o patamar de competição no setor de jatos regionais de médio porte. Por ora, no entanto, as principais vantagens estão com a Embraer, cuja posição em termos de qualidade de seus produtos e aceitabilidade pelo mercado é inegável. Nos termos em que o argumento foi colocado, parece que houve época em que a Embraer não enfrentou feroz e capacitada concorrência de suas competidoras e que a concorrência com a Airbus representa um desafio absolutamente inédito para a Embraer.
A entrega de 80% do negócio de jatos regionais resultará na total desnacionalização da Embraer e no fim inglório de uma empresa cuja missão sempre foi, e precisa continuar a ser, contribuir para o desenvolvimento industrial e tecnológico do Brasil e de seu povo
Se a concorrência com outras empresas altamente capacitadas não constitui novidade para a Embraer, é preciso reconhecer que a entrada em cena da Airbus or meio da compra da Bombardier não será tarefa fácil.
A Embraer, no entanto, tem plenas condições de enfrentar e vencer essa competição por meio de alianças estratégicas com a Boeing, sem que isso implique a entrega da Embraer à Boeing. Uma das possibilidades seria estabelecer acordos em torno de projetos específicos entre as duas companhias. A Boeing também está pressionada pela aquisição da Bombardier pela Airbus – a concorrente direta – situação que daria maior poder de barganha à Embraer para negociar um contrato menos lesivo ao interesse nacional. Seriam acordos que preservassem a Embraer como empresa nacional sediada no Brasil, mantendo a ação de classe especial, a golden share, do Estado brasileiro e colocando a brasileira na posição de líder dos projetos. Caberia à Boeing participação minoritária na associação.
A entrega de 80% do negócio de jatos regionais – com direitos de compra do restante em um prazo de dez anos – resultará na total desnacionalização da Embraer e no fim inglório de uma empresa cuja missão sempre foi, e precisa continuar a ser, contribuir para o desenvolvimento industrial e tecnológico do Brasil e de seu povo.

A entrega nos termos propostos no MoU terá duas consequências graves. Em primeiro lugar, resultará na transferência, em médio prazo – dez anos -, de toda a estrutura de produção, pesquisa e desenvolvimento da Embraer para os EUA para ficar mais próxima da sede da Boeing e da cadeia aeronáutica estadunidense. Não haverá nenhum motivo para a empresa continuar no Brasil, que oferece vantagens locacionais muito pequenas comparadas aos EUA.
Em segundo lugar, a separação do setor de aviação comercial – responsável pela maior parte do faturamento e lucro da Embraer – do setor de defesa, deve inviabilizar quase imediatamente este último. Sem os volumosos ingressos de recursos advindos do setor comercial, sem a necessidade de atualização tecnológica constante, dependendo apenas de compras governamentais e enfrentando um ambiente de competição muito forte e repleto de restrições de propriedade intelectual, a área de defesa se torna financeira, comercial e tecnologicamente inviável sem o setor de aviação comercial.
Assim, a possibilidade de que a Boeing venha a comprar num futuro próximo a empresa de defesa, cuja inviabilidade é óbvia, é muito grande.
3. Os múltiplos impactos da entrega da Embraer
A venda da Embraer é, junto com a entrega do pré-sal, um dos lances mais ousados da geopolítica estadunidense em busca do objetivo de neutralizar qualquer pretensão de liderança regional do Brasil e de impedir o desenvolvimento nacional autônomo e soberano.
A entrega da Embraer nos relega à condição de economia primário-exportadora, revertendo oitenta anos de desenvolvimento industrializante. Alinhado a isso, a Boeing reserva ao Brasil um lugar “privilegiado” na indústria aeronáutica mundial: o papel de produtor de biocombustíveis de aviação a ser fornecidos para a Boeing em futuro próximo. Sai a empresa industrial intensiva em tecnologia, volta a plantação de cana.
O setor aeronáutico brasileiro se resume à Embraer e a umas poucas fornecedoras de produtos de baixo valor agregado e pequena intensidade tecnológica, à exceção de uma ou duas empresas. Nem por isso a Embraer deixa de ser fundamental para a combalida indústria brasileira. A necessidade de integrar a seus projetos de alta tecnologia e novos materiais, empregar processos de manufatura avançada e gerir cadeias globais de fornecedores coloca o polo de São José dos Campos em contato com o que há de mais avançado na indústria e tecnologia mundiais, com efeitos que podem se espraiar sobre outros setores industriais.
Nenhum governo, por mais entreguista e subserviente aos interesses estrangeiros que seja, sequer proporia discutir a entrega de tão valioso patrimônio construído com o sacrifício de gerações e gerações de brasileiras e brasileiros
A Embraer reúne, ao lado da Petrobras, o mais competente corpo de engenharia e gestão da indústria brasileira, sendo responsável pela qualificação de trabalhadores altamente especializados. Esses engenheiros contribuem para a qualificação de empresas, universidades, laboratórios e instituições de pesquisa.
A entrega da Embraer resultará no curto prazo em corte de postos de trabalho e no médio prazo na extinção completa desses empregos. São 16 mil postos diretos e oito mil indiretos. O Brasil deveria aproveitar essa mão de obra especializada para fortalecer a empresa e expandir sua produção. Cada trabalhadora e trabalhador incorpora décadas de conhecimento tácito acumulado em várias gerações. O custo de descartar esse vasto repositório de conhecimento é proibitivo para um país com as carências do Brasil.
 Por fim, a entrega da Embraer demole um dos pilares da Estratégia Nacional de Defesa do Brasil, o fortalecimento de nossa base industrial de defesa. A separação dos setores de aviação comercial e de defesa, ao contrário de garantir a continuidade deste sob controle do Estado brasileiro, deverá inviabilizá-lo no curtíssimo prazo, forçando sua falência ou obrigando a entrega também do setor de defesa. Nesse sentido, não é exagero dizer que a Política Nacional de Defesa e a Estratégia Nacional de Defesa estão sendo decididas em Washington, e não em Brasília.
Por fim, a entrega da Embraer demole um dos pilares da Estratégia Nacional de Defesa do Brasil, o fortalecimento de nossa base industrial de defesa. A separação dos setores de aviação comercial e de defesa, ao contrário de garantir a continuidade deste sob controle do Estado brasileiro, deverá inviabilizá-lo no curtíssimo prazo, forçando sua falência ou obrigando a entrega também do setor de defesa. Nesse sentido, não é exagero dizer que a Política Nacional de Defesa e a Estratégia Nacional de Defesa estão sendo decididas em Washington, e não em Brasília.
4. Fim de linha, ou nem tudo está perdido?
A pressa da Boeing e do governo brasileiro em concluir o mais rapidamente a entrega da Embraer, deve-se ao fato de o Golpe de 2016 ter aberto uma janela de oportunidades para leiloar o país ao capital estrangeiro em geral, e ao estadunidense em particular, e submeter o Brasil aos imperativos geopolíticos dos EUA, mas isso tem data para acabar: as eleições presidenciais de 2018. Sob condições de normalidade democrática e precisando prestar contas ao povo, nenhum governo, por mais entreguista, por mais subserviente, por mais sabujamente alinhado aos interesses estrangeiros que fosse, sequer proporia discutir a entrega de tão valioso patrimônio nacional construído com o sacrifício de gerações e gerações de brasileiras e brasileiros. Eis aí mais uma razão para a esquerda vencer as eleições de 2018.
Confira a 22ª edição da revista Socialismo e Liberdade:





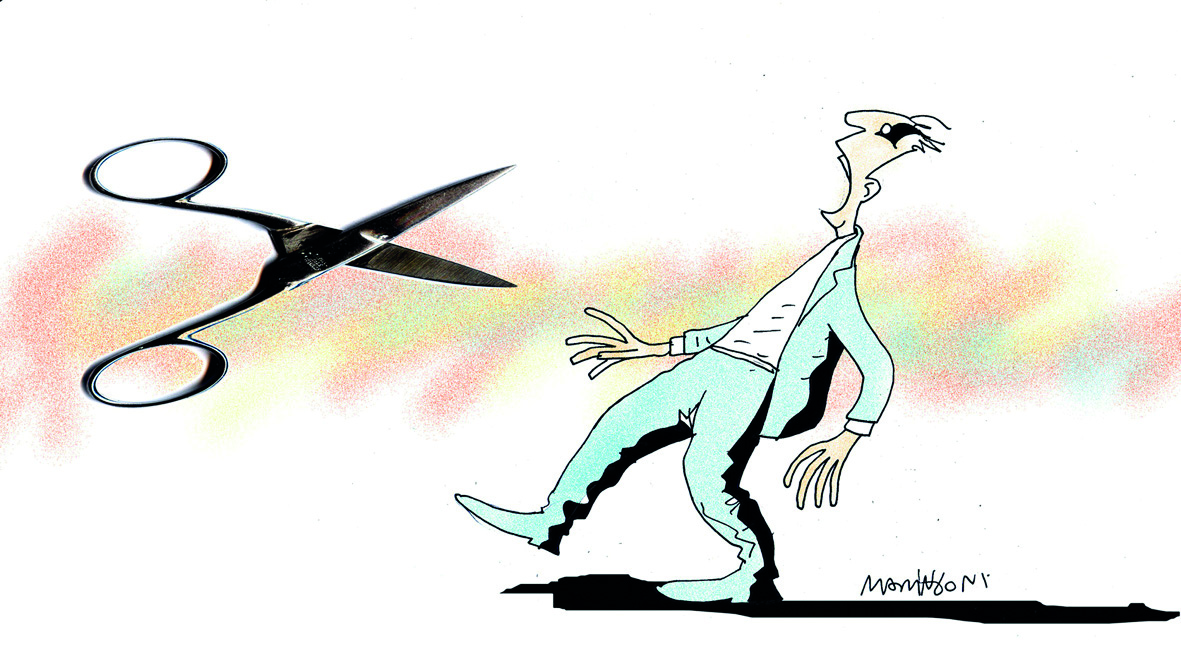 Medida sem paralelo
Medida sem paralelo












 A edição traz, ainda, um especial sobre Marielle Franco, vereadora do PSOL que foi brutalmente assassinada no dia 14 de março de 2018, no Rio de Janeiro. Com textos de Talíria Petrone, Débora Camilo, entre outros, o especial examina como a execução de Marielle escancarou a violência do Estado brasileiro contra negros, pobres, mulheres, lésbicas e todos que se encontram em vulnerabilidade na sociedade.
A edição traz, ainda, um especial sobre Marielle Franco, vereadora do PSOL que foi brutalmente assassinada no dia 14 de março de 2018, no Rio de Janeiro. Com textos de Talíria Petrone, Débora Camilo, entre outros, o especial examina como a execução de Marielle escancarou a violência do Estado brasileiro contra negros, pobres, mulheres, lésbicas e todos que se encontram em vulnerabilidade na sociedade.