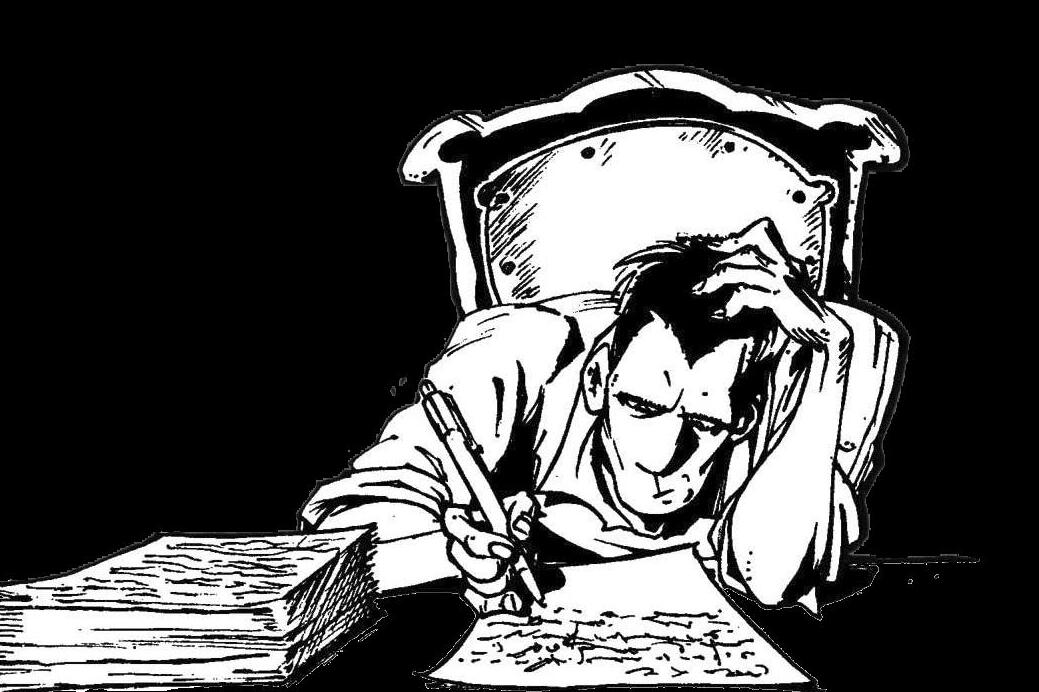Cristina T. Marins
André tem pouco mais de trinta anos de idade e cresceu na periferia de uma cidade de médio porte no estado do Rio de Janeiro. Filho de mecânico, aos nove anos começou a trabalhar como ajudante de pedreiro. Na adolescência, por intermédio da avó, faxineira, conseguiu ingressar num curso de formação profissional destinado a jovens de baixa renda. Como parte do currículo, realizou dois breves estágios e acabou contratado para trabalhar no balcão de uma pequena loja de revelação fotográfica. Funcionário dedicado, com o passar do tempo, foi cobiçado por outros estabelecimentos. Conforme aceitava propostas, acumulava experiência e ganhava novas responsabilidades. Foi técnico, faz-tudo, atendente, e assistente de gerente antes de dar os primeiros passos em direção ao “trabalho por conta própria”.
Como principal responsável por uma pequena loja, André viu uma oportunidade nas demandas de clientes que buscavam serviços fotográficos para além daqueles oferecidos pelo estabelecimento. Após ter combinado com o patrão os termos do trabalho extra, André conseguiu uma câmera emprestada e aprendeu a manuseá-la. Com o auxílio da companheira, passou a registrar festas de aniversário e casamentos para complementar a renda do casal. Gradualmente, a demanda cresceu e os dois passaram a trabalhar durante as madrugadas respondendo as solicitações de potenciais clientes. A companheira de André deixou o emprego de secretária num consultório médico para se dedicar integralmente ao que até ali era um “bico”. Assim, o casal obteve um incremento substancial em seus rendimentos, sem que André precisasse abandonar a ocupação principal.
Quando as economias de André e da companheira foram suficientes para a compra de um automóvel, a relação com os patrões, que já andava estremecida, piorou. O carro, segundo André, despertou a suspeita de que ele estivesse se apropriando indevidamente de parte das vendas da loja. Tomado por sentimento de injustiça, o jovem pediu as contas e decidiu apostar tudo na atividade que até então considerava secundária: “eu tinha que começar a pensar no meu”, disse. Ele investiu na compra de equipamentos, buscou se qualificar e chamou parentes para ajudá-lo na tarefa.
Na ocasião do meu encontro com André, quando eu realizava pesquisa de doutorado sobre o trabalho de fotógrafos, ele contou das conquistas obtidas por meio do “trabalho por conta própria”. Não havia muito, ele e a companheira haviam comprado um terreno onde construíam uma confortável casa e ali planejavam criar os filhos. Com a renda derivada dos negócios, auxiliara parentes, incluindo a avó e a tia que puderam deixar de lado a faxina para trabalhar numa pequena confecção que ele ajudou a montar. Ao contar sobre a “história de superação”, André deixava transparecer o orgulho que sentia da trajetória.
Microempreendedores sem direitos
O trabalhador apresentado na introdução deste artigo está compreendido entre os 8,1 milhões de microempreendedores individuais registrados no país, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Junto a outros milhões de trabalhadores que atuam na informalidade, André não faz parte da parcela protegida por direitos trabalhistas hoje minoritária. No Brasil, a tendência de conversão do trabalhador em microempresários ou trabalhadores informais foi resultado de projeto político.
A chamada “flexibilização do trabalho” ganhou fôlego renovado a partir de 2013, com os crescentes sinais de esgotamento do governo petista. Dali em diante, a agenda de retirada de direitos avançou e, no governo Temer, fora aprovada reforma trabalhista que submeteu o trabalhador brasileiro a maior insegurança e ampliou a liberdade do empregador em determinar as condições de contratação, de uso da mão de obra e das formas de remuneração do trabalho O longo processo de desmantelamento de direitos trabalhistas lançou as bases para o fortalecimento do fenômeno conhecido como “plataformização do trabalho”.
O funcionamento de plataformas digitais tais como iFood, Uber e Rappi concretizou um modelo de trabalho no qual o vínculo empregatício se tornou inexistente. Também conhecido como “uberização”, o fenômeno transformou trabalhadores em empresários de si mesmo. Conforme chama atenção a pesquisadora Ludmila Costhek Abílio, trata-se de um passo adiante do fenômeno da terceirização, já que as plataformas transferem riscos e custos não mais para outras empresas, mas para a imensa massa de trabalhadores autônomos. Considerando este cenário, não surpreende que o índice de sindicalização no país venha sofrendo declínio nos últimos anos. Segundo resultados de pesquisa do IBGE, em 2018, a quantidade de trabalhadores sindicalizados no Brasil atingiu o menor patamar dos últimos anos.
Após o preocupante desempenho eleitoral do campo das esquerdas em 2018, como parte dos necessários balanços para reorganização de ação política, muito tem se falado sobre a necessidade de um renovado diálogo com a classe trabalhadora. Contudo, isso não ocorrerá enquanto não compreendermos que a própria noção de classes no século XXI vem sendo profundamente reconfigurada. O novo mundo do trabalho há tempos não é formado pela figura do operário da fábrica e a restruturação produtiva criou um contingente imenso de pessoas que, sequer, identificam-se como trabalhadores, mas como empresários ainda que de si mesmos. Saber como pensa essa massa heterogênea permanece um desafio, mas investigações do campo das ciências sociais já fornecem pistas importantes.
Componentes ideológicos do trabalho por conta própria
Em 2016, o antropólogo Antônio Carriço defendeu a tese de doutorado6 com os resultados de prolongada pesquisa junto a trabalhadores de padarias no Rio de Janeiro. Após ter acompanhando o cotidiano desses e experimentado na pele as jornadas exaustivas às quais eram submetidos, o antropólogo observou que as duras condições de vida eram encaradas por aquelas pessoas com certa naturalidade. Intrigado, Carriço dedicou especial atenção ao modo como a noção de classe trabalhadora se desenvolvia naquele contexto. O pesquisador concluiu que a noção de trabalhador não se dava em oposição a uma classe dominante feita de patrões ou burgueses, mas em contraste com aqueles que “não aguentavam”, com os “vagabundos” que optavam pela “vida fácil”.
Outra tese defendida, em 2017, pelo antropólogo Carlos Gutierrez também nos ajuda a entender como pensam os trabalhadores brasileiros. Focalizando os evangélicos que, vale lembrar, formam o segmento religioso que mais cresce no país o pesquisador argumenta que, entre os fiéis investigados, o empreendedorismo aparece como “possibilidade real de libertação da pobreza e da conquista da autonomia, além da realização pessoal” (p.240). Mais uma vez, chama atenção a ênfase sobre o esforço individual. Naquele contexto, o “trabalho duro” e o “sacrifício”, combinados à “fé em Deus” conformavam o caminho para o sucesso material.
O mito do esforço individual
Na literatura acadêmica brasileira, outros trabalhos recentes apontam para a força de um certo ethos empreendedor que valoriza o esforço individual, em detrimento de unidades de referência coletivas. Nesses trabalhos, o Estado aparece ora como entidade omissa, ora como entrave ao trabalho autônomo (notadamente, por recolher impostos e fazer exigências burocráticas).
Como observa a professora Wania Mesquita em artigo que trata da inserção de fiéis evangélicos no universo do trabalho autônomo, a relação com o sistema público de seguridade não constitui preocupação de primeira ordem. Se muitos de seus interlocutores jamais tiveram acesso à proteção de leis trabalhistas e previdenciárias, eles encontram suporte na rede familiar. Com efeito, a importância da família no universo de trabalhadores informais em nosso país é evidente: seja com empréstimos, auxílio no cuidado dos filhos, doações em dinheiros ou equipamentos, é ela que aparece como unidade de referência fundamental no vácuo deixado pelo Estado.
Estudos sobre o trabalho vêm sugerindo ainda e de maneira consistente que, no Brasil, a mudança da posição de empregado para patrão (ainda que de si mesmo) é investida de carga simbólica positiva. Mesmo quando essa passagem significa a saída de um sistema de acesso a proteções trabalhistas, verifica-se uma percepção de ascensão de quem deixa de se submeter à figura de chefe. Isso aparece em relatos como o do personagem apresentado no início do texto que, ao investir no trabalho por conta própria, viu-se livre uma relação marcada por desconfianças e frustrações. O leitor poderá argumentar, com razão, que a trajetória ascendente de André não é representativa da realidade da maior parte dos trabalhadores brasileiros. De fato, dentre aqueles que atuam no mercado de trabalho sem as proteções trabalhistas conquistadas no século XX, a parcela mais significativa sobrevive da mão pra boca. Contudo, trajetórias de ascensão ou “histórias de sucesso” não devem ser desprezadas já que funcionam como fermento ideológico para grande parte da população.
Num contexto de crescimento econômico que promoveu a inclusão social por meio do consumo, trabalhadoras e trabalhadores brasileiros têm se apropriado nos últimos anos de parâmetros nitidamente importados do imaginário neoliberal. Notadamente, valores como Estado mínimo, empreendedorismo e autonomia individual passaram a integrar o universo moral. Para grande parte da população periférica brasileira, nos últimos anos, ganhou força o modelo do empreendedor. Esse tipo ideal articula atributos como persistência e disposição ao trabalho árduo, honradez, valorização da família e solidez de caráter. Esse modelo de trabalhador privilegia indivíduos que, a despeito das intempéries do mercado, mantêm-se firme nos propósitos e encontram soluções criativas para prosperar em condições adversas.

Aplicativos e colaboradores
São abundantes as evidências de que o ideal neoliberal de trabalho é incompatível com o mundo real. A ideia de que as condições para crescimento estão ao alcance de todos aqueles dispostos ao trabalho duro desconsidera a extrema desigualdade em que vivemos. Os avanços tecnológicos da era digital têm aprofundado ainda mais este quadro ao provocar desemprego em massa e empurrar novas gerações para condições precárias de trabalho.
Os efeitos da chamada “flexibilização do trabalho” têm sido devastadores, como demonstra a professora da Universidade da Carolina do Norte, Alexandrea Ravenelle. Em seu livro, a socióloga que realizou pesquisa sobre o trabalho em plataformas tais como Uber e Airbnb, afirma que na maior parte das vezes, em lugar da liberdade financeira prometida pelas empresas, os trabalhadores são submetidos a condições de laborais semelhantes àquelas das fases iniciais da industrialização. Essa realidade tem sido verificada nos centros urbanos brasileiros onde é comum que entregadores trabalhem mais do que 12 horas diárias, não tenham dias de folga e, como muitos, morem em lugares distantes do local de trabalho e acabem dormindo nas ruas para maximizar os ganhos.
Embora empresas responsáveis pelos aplicativos apregoem que os “colaboradores” são livres para determinar os horários de trabalho, elas os gerenciam indiretamente. Por meio de algoritmos que determinam concessões de bônus ou penalidades, as empresas operam sem transparência.
Desde o final de 2019, a insatisfação dos chamados “entregadores de aplicativos” tem produzido protestos em capitais brasileiras. No último dia 17 de abril, quando jornais noticiavam o aumento de mortes no Brasil em decorrência do coronavírus, entregadores se reuniram na Avenida Paulista para denunciar diminuição no valor do frete, “bloqueios” erráticos nos aplicativos e falta de equipamentos de segurança. Observar o teor dessas reivindicações é fundamental, assim como o é prestar atenção nas novas formas de organização que emergem nesse contexto. Com as tecnologias digitais, as ações coletivas são descentralizadas e ambíguas. Conforme chamou atenção a professora Rosana Pinheiro-Machado, movimentos que ocorrem no país desde 2013 são ambíguos por seguirem a lógica da internet de agregação, viralização e contágio. Uma vez que os participantes desses movimentos não são sindicalizados, “sem aquela linha clara política à qual estávamos acostumados nas manifestações do passado, reivindicam coisas múltiplas” (p.57).
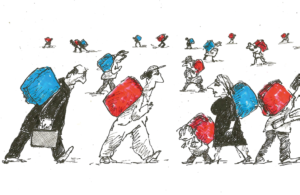
Monitoramento e flexibilização
É preciso observar também que a correlação de forças entre as empresas que gerenciam os aplicativos e os trabalhadores é extremamente desigual. Atuando com baixíssimas interferências e regulamentações dos governos locais, essas empresas realizam monitoramento meticuloso dos colaboradores e consumidores e isso lhes rende vantagens operacionais incalculáveis. A criação de mecanismos que questionem a neutralidade da inteligência artificial, que garantam transparência e privacidade tanto para os trabalhadores quanto para os consumidores são cruciais para a discussão sobre o trabalho no século XXI. Estamos lidando com desafios novos para o mundo todo, sem casos ainda bem- -sucedidos mesmo nos países de economias ditas desenvolvidas. Nossos desafios se tornam ainda mais complexos ao considerarmos que grande parte da população brasileira se encontra ainda hoje excluída dos benefícios da sociedade industrial.
Mesmo com uma eventual retomada econômica futura, o quadro de incertezas no qual vive grande parte dos trabalhadores neste início de século XXI tende a se agravar, já que o desenvolvimento de novas tecnologias, sobretudo na área da robótica e da inteligência artificial, dispensa o emprego de mão de obra humana em grau inédito. Embora seja correto supor que o baixo custo da mão de obra retardará o processo de robotização no país, os efeitos de recentes avanços tecnológicos já se fazem visíveis por aqui. Em parte, isso se reflete na reconfiguração de setores industriais que perdem competitividade ou, ainda, em setores em crise, tais como meios de comunicação tradicionais e instituições de ensino. No Brasil é especialmente preocupante que, em breve, a ampliação da atuação de empresas de comércio eletrônico deve enfraquecer o setor varejista atualmente o maior empregador do país.
Tendências diante da pandemia
Embora seja cedo para tecer comentários conclusivos sobre os impactos sociais da Covid-19, podemos desde já identificar algumas tendências. Por um lado, a crise instaurada pela pandemia tornou ainda mais nítido que a chamada “flexibilização do trabalho” nos deixa à beira de um colapso social.
No Brasil, temos visto setores políticos até então insensíveis ao tema reconhecendo a necessidade imediata de expandir as proteções sociais. Por outro lado, é possível que o isolamento social estratégia necessária para mitigar os efeitos devastadores da pandemia na população antecipe a expansão das ferramentas digitais e, consequentemente, também os efeitos na sociedade. Depois de alguns meses de confinamento, vamos nos acostumando a fazer compras online, a utilizar ferramentas de ensino remoto e a realizar reuniões via internet, para citar apenas alguns exemplos de como nossos hábitos vêm sendo transformados rapidamente.
A formulação de políticas públicas que reduzam a desigualdade decorrente desse cenário deve ser prioridade de uma esquerda conectada às demandas do século XXI. Isso implica revisar os marcos teóricos que vêm nos orientandos historicamente. Nesse sentido, a própria ideia de trabalho precisa ser repensada, uma vez que, ela parece se dissociar crescentemente da noção de emprego. Assim, formas tradicionais de fazer política não devem desaparecer, mas precisam ser atualizadas para sobreviver aos novos tempos. Admitir novos canais de organização política que não os já conhecidos, encarar como legítima a militância que se forma a partir de ferramentas digitais, entender e acolher atores que participam pela primeira vez do debate político são, assim, condições imprescindíveis para uma esquerda que se pretende renovada.